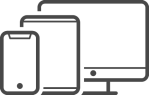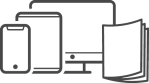Em junho de 2022, a série de TV sul-coreana Uma Advogada Extraordinária deu o que falar. Sua protagonista, Woo Young-woo, tem transtorno do espectro autista, mas quebra vários dos estereótipos atrelados ao perfil: é uma mulher adulta (não um garotinho) e atua numa profissão que exige excelente argumentação e comunicação (e não habilidades extraordinárias com números).
Na história da Netflix, Young-woo é uma “gênia” com QI de 164 que se formou em direito como a melhor aluna na tradicional Universidade Nacional de Seul. Ainda assim, passou seis meses sem emprego devido ao preconceito que ronda a condição.
Quando consegue uma vaga num escritório de advocacia, porém, ela se mostra capaz de resolver criativamente os casos mais difíceis — inclusive estabelecendo relações entre as causas jurídicas e baleias, animal ao qual é aficionada devido a uma de suas peculiaridades ligadas ao autismo, o hiperfoco.
É comum pessoas com autismo terem um interesse intenso em algum tema ou atividade e tentarem aprender tudo sobre aquilo. Isso envolve coisas abrangentes como música e animais em geral ou elementos específicos como violino ou dinossauros. E o sujeito pode ter mais de um hiperfoco.
Nem tudo é um arco-íris, claro: o sucesso não a exime de ter de lutar para vencer dificuldades sociais e suposições equivocadas de colegas e clientes devido a sua condição.
O seriado se tornou um fenômeno, passou meses como a produção não falada em inglês mais vista da Netflix e já foi renovado para a segunda temporada. Só que não ficou imune a críticas.
Na própria Coreia do Sul, mães de jovens com autismo afirmaram que o drama é “pura fantasia”, e os filhos estão longe de ser como a personagem.
Ativistas pontuaram que a descrição da protagonista é imprecisa: nem todas as pessoas com o transtorno apresentam sintomas como ecolalia (repetir as palavras dos outros), sensibilidade ao ruído e ao toque, rigidez, pouco contato visual e até andar desajeitado.
Outra desaprovação: por que não escolher para o papel uma atriz com autismo?
+ Leia Também: Não podemos tapar os ouvidos: a psicanálise e o autismo
Toda a discussão gerada, e outras similares, deixa evidente que o transtorno do espectro autista (TEA) é uma condição complexa, ampla, heterogênea… e em alta.
Fazem parte do espectro tanto indivíduos com alta funcionalidade e habilidades fantásticas até pessoas que precisam de um grande grau de suporte, não têm autonomia e apresentam deficiências intelectuais.
“Se você conhece um autista, você conhece apenas um autista”: essa é uma máxima usada para representar a diversidade da condição. Ela se apresenta de formas múltiplas. E o conceito de espectro busca deixar clara essa variabilidade de manifestações.
O autismo pediu passagem e se popularizou. Em redes sociais como TikTok e Instagram, cada vez mais adolescentes e adultos com TEA compartilham vivências e experiências, e ativistas dentro do espectro tentam educar os seguidores a respeito, buscando serem ouvidos, respeitados e incluídos.
E esse ganho de escala também tem a ver com o aumento no diagnóstico.
O número de casos de pessoas com autismo, sobretudo jovens e adultos, cresceu vertiginosamente, e a prevalência em crianças nunca foi considerada tão elevada.
Nos Estados Unidos, enquanto o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) apontava que, nos anos 2000, havia um autista para cada 150 cidadãos, hoje a estimativa baseada em nova pesquisa revela que uma em cada 36 crianças com menos de 8 anos possui a condição.
É a maior taxa já descrita em um estudo científico. Antes disso, um cuidadoso inquérito sul-coreano, concluído em 2011, já calculava que um entre 38 pequenos por lá tinha autismo.
Por que essa decolagem no diagnóstico? Na verdade, os especialistas afirmam que não é que está aumentando, é que hoje se conhece mais e se sabe melhor detectar a condição.
+Leia Também: Abril Azul: a alimentação pode ajudar no tratamento do autismo?
Mas, afinal, o que caracteriza o TEA? Ele é resultado de um desenvolvimento atípico do cérebro — e se investigam tanto alterações genéticas como no período dentro da barriga da mãe relacionadas a esse processo.
A detecção é feita por uma avaliação clínica e comportamental em consultório; não há exames de sangue ou imagem para essa finalidade.
Hoje, para entrar no espectro, é preciso apresentar no mínimo três características: dificuldade de comunicação, problemas para socializar e padrões fixos de comportamento, incluindo movimentos repetitivos e interesse específico por certos assuntos ou atividades.

Mas o diagnóstico não é simples. “Muitos colegas ainda não estão capacitados para identificar as nuances mais sutis do autismo”, afirma o psiquiatra Alexandre Valverde, especialista no tema e ele mesmo integrante do espectro.
“Se a criança foge do menino branco que balança as mãos e não olha nos olhos, o autismo muitas vezes nem é considerado uma possibilidade”, diz o médico de São Paulo.
Se é difícil para profissionais reconhecer o autismo, que dirá para a população em geral!
O fato é que o TEA vive um momento único: ao mesmo tempo que existe uma estigmatização, representações de autistas superinteligentes como a advogada da série coreana conferem um “glamour” por vezes criticado pelos próprios autistas.
A condição não deve ser encarada nem como condenação nem como bênção disfarçada. E um melhor entendimento sobre ela é o único caminho para ampliar o respeito, o tratamento e a inclusão.
+Leia Também: Por dentro da linguagem do autismo
Uma breve história do TEA
Não se sabe ao certo quando o autismo surgiu na história humana, mas o trajeto oficial da condição começa em 1933 com o nascimento do americano Donald Triplett, conhecido como O Caso 1.
Desde pequeno, o garotinho foi incompreendido pelos pais por demonstrar pouco interesse por eles (e pessoas, no geral) e dedicar toda a sua atenção a cores, números e brinquedos.
Também apresentava grande apego por rotina: pequenas alterações no ambiente em que vivia ou nas atividades que fazia o deixavam muito estressado e até agressivo.
Donald era uma mistura de déficits e talentos, e certamente não tinha o mesmo desenvolvimento de outras crianças da sua idade.
Seus pais, que tinham boa renda, o levaram a dezenas de médicos, e um deles cravou: a culpa é da convivência com seus responsáveis, seria preciso afastar a criança deles.
A medida parecia drástica, mas, em 1937, quando o garoto apresentou problemas para comer, os pais decidiram pela internação.
Após um ano trancado numa espécie de sanatório infantil, Donald piorou. Perdeu o brilho no olhar, e seus interesses, que já eram restritos, foram regredindo ainda mais. Parecia que sua alegria de viver estava sumindo.
Desesperados, os pais resolveram contatar um jovem psiquiatra que estava começando a se destacar no universo infantil, Leo Kanner. Beamon Triplett, pai de Donald, escreveu uma carta de 33 páginas ao médico, detalhando os comportamentos atípicos do garoto desde o nascimento.
Após diversas consultas presenciais e anos de comunicação sobre o crescimento do pequeno, Kanner publicou, em 1943, o artigo Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo, descrevendo um perfil que ele detectou em Donald e outras dez crianças.
Todas elas apresentavam algum tipo de maneirismo motor e aspectos não usuais na comunicação. Nasce, assim, o termo “autismo” — palavra de origem grega que significa “voltar-se a si mesmo”.
+ Leia Também: Treinamento de atenção para as crianças com autismo
Mas ainda havia muito a ser esclarecido. Em 1952, a Associação Americana de Psiquiatria publicou a primeira edição do documento que virou referência mundial para pesquisadores e clínicos da área, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais (DSM).
Nele, o autismo não foi categorizado como um transtorno à parte, mas dentro de um subgrupo da esquizofrenia infantil.
Na década de 1950, Kanner lançou uma das teorias mais polêmicas sobre a condição: a de que ela seria causada por mães emocionalmente distantes, a hipótese da “mãe geladeira”.
Muitas mulheres foram erroneamente culpadas, mas não demorou para a ciência achar um furo na acusação: mães de filhos autistas também tinham crianças não autistas. Se o ambiente era o mesmo, por que o resultado seria diferente?
Na década de 1960, surgiram os primeiros estudos classificando o autismo como um transtorno cerebral presente desde a primeira infância, tendo pouca influência da criação e da educação.
No desenrolar das pesquisas pelo mundo, começou-se a perceber que ele também independe de classe socioeconômica, raça ou etnia.
Em 1978, após uma série de trabalhos sólidos, o psiquiatra Michael Rutter é o primeiro a classificar o autismo como um distúrbio no desenvolvimento cognitivo. E sua definição já entra em vigor a partir de 1980, no DSM-3, que pela primeira vez coloca o autismo como uma condição específica.
Mas, um ano depois, houve um terremoto nesse campo. Após analisar artigos do psiquiatra Hans Asperger, que avaliou crianças com autismo que precisavam de um baixo grau de suporte e falavam com clareza sobre aquilo de que gostavam (“os pequenos professores”, em suas palavras), a médica Lorna Wing propôs entender o transtorno como um espectro, com diversas manifestações e níveis de apresentação.
Termo antes usado para denominar uma síndrome que hoje corresponde ao autismo nível 1. Ele foi abolido nos manuais de psiquiatria e, em 2018, pesquisadores descobriram que Hans Asperger, médico que batizou o quadro, trabalhou para as forças eugenistas nazistas.
A descrição de Wing revolucionou a forma de encarar e reconhecer o autismo.
Porém, só em 2013, 80 anos após O Caso 1, o DSM-5 veio agrupar todas as subcategorias dessa condição em um único diagnóstico, o transtorno do espectro autista, ou TEA.
A saga, no entanto, não parou aí.
OS NÍVEIS DE AUTISMO
O espectro é amplo, e a classificação mais aceita leva em conta a necessidade de suporte:
- Nível 1: Apresenta pouco ou nenhum comprometimento na linguagem funcional. Pode haver dificuldades na interação social, mas nada que exija grande suporte dos outros.
- Nível 2: É a média funcionalidade: há um menor grau de independência e há necessidade de auxílio no dia a dia, muitas vezes até para desempenhar atividades cotidianas.
- Nível 3: Baixa funcionalidade, há dependência substancial de terceiros devido a interações sociais muito limitadas e comportamentos que interferem na qualidade de vida e no convívio.
O componente genético
Saga, na verdade, é o que vivem muitas pessoas com autismo e suas famílias.
“A gravidez do Nicolas foi um susto, pois veio 13 anos depois da minha segunda filha. Na época eu já tinha 36 anos, e decidimos sair da casa da minha sogra. Fui mexer com as obras da casa nova durante a gravidez, e acabou sendo um período conturbado e estressante. Meu filho nasceu antes do tempo porque eu perdi líquido mais cedo do que deveria. E, após o nascimento, não demorou para eu perceber nele umas características que, quando bebês, minhas filhas não tinham”, conta a bancária Ana Paula Alves, de Samambaia Sul, região vizinha a Brasília.
“O Nicolas demorou a andar, falar, e muita gente dizia ‘Ah, é normal, menino demora mais para se desenvolver que menina’, mas eu, como mãe, sentia que ele era diferente”, acrescenta.
E ela estava certa. Aliás, nos primeiros anos de vida, o instinto dos pais é um aliado no diagnóstico de autismo.
“Mães e pais são extremamente sensíveis às diferenças dos filhos pequenos, principalmente aqueles que já têm outras crianças em casa”, reforça Guilherme Polanczyk, professor de psiquiatria da infância e adolescência da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP).
“Eu aprendo muito com o Nicolas. Depois do meu filho, eu vejo o mundo de outra forma, aprendi a ser mais paciente e a comemorar todas as pequenas vitórias no desenvolvimento dele”
Ana Paula Alves, bancária e mãe de uma criança com autismo
As causas do autismo ainda motivam muitas investigações, mas já é consenso entre os especialistas de que ele é resultado da interação entre fatores genéticos e ambientais.
“Pais com idade mais avançada, uso de algumas medicações, problemas durante a gravidez e traumas fetais podem contribuir, e é importante destacar que o ambiente interfere no desenvolvimento da criança na fase intrauterina. Uma criança não vira autista depois que nasce, ela já nasce com a condição”, esclarece Polanczyk.
Com esses detalhes em mente, é possível que a gravidez complicada de Nicolas tenha favorecido o autismo. Mas, indiscutivelmente, ele não estaria no espectro se não fosse também pela carga genética.
+Leia Também: A contribuição da investigação genética no diagnóstico do autismo
Em 1998, um estudo associou a vacina tríplice viral (contra sarampo, caxumba e rubéola) a maior risco de desenvolver autismo — ela desencadearia inflamações intestinais que repercutiriam no cérebro da criança. A publicação causou rebuliço na comunidade científica, mas logo se revelou uma farsa: fora ter recrutado apenas 12 crianças, e o médico responsável, Andrew Wakefield, recebeu dinheiro para fraudar o resultado e lucrar com isso. O registro médico dele foi cassado e diversas pesquisas robustas provaram que essa relação nunca existiu.
Pesquisas atuais indicam que o DNA é responsável por cerca de 70 a 90% do risco de autismo.
Mas, ao contrário de algumas síndromes e outras doenças, o transtorno não está ligado a um único gene alterado em todos os indivíduos.
Variações em mais de 180 genes já foram relacionadas à condição, e é justamente essa diversidade que ajuda a explicar as diferenças de sintomas e manifestações dentro do espectro.
“Existem dois modelos de arquitetura genética ligadas ao TEA: um associado a uma única mutação em um gene importante, que interfere no funcionamento de outros genes e representa um alto risco; e outro poligênico, envolvendo variantes no DNA de efeito médio ou pequeno combinadas”, destrincha Maria Rita Passos Bueno, professora de genética do Centro de Estudos do Genoma Humano da USP.
Segundo a pesquisadora, a influência do ambiente estaria vinculada principalmente a essa arquitetura poligênica, que corresponde à maior parte dos casos.
Mas, quando há uma variante genética específica de alta penetrância, ela costuma ser o xis da questão para o aparecimento do autismo.
Os estudos genéticos buscam a possibilidade de, no futuro, complementarem o diagnóstico clínico do autismo.
“Principalmente em crianças muito pequenas, testes genéticos podem conseguir acelerar e confirmar esse diagnóstico. Mas, para isso, ainda é preciso investigar e identificar mais variantes de risco”, aponta Maria Rita, que lidera um laboratório responsável pelo atendimento genético de mais de 1 500 famílias de pessoas com TEA.
O serviço gratuito oferece aconselhamento genético e ajuda a destrinchar o teste de genes de famílias que estão em dúvidas sobre as chances de herdabilidade.
“Ter casos de autismo na família aumenta bastante o risco de uma criança nascer com a condição, mas sabemos que mutações genéticas aleatórias também ocorrem”, pondera o geneticista Rodrigo Fock, do Programa de Transtornos do Espectro Autista (Protea) do Instituto de Psiquiatria da USP.
“Então existe a possibilidade de nascer um autista numa família em que ninguém mais apresenta a condição”, afirma.
Independentemente das mudanças no DNA, o ponto em comum é que elas geram modificações no desenvolvimento cerebral — o que varia bastante.
“Pode haver alterações na migração dos neurônios durante a formação do cérebro, na comunicação entre eles ou em sua forma de ativação”, explica Fock, que também coordena a Clínica de Genética da Dasa Genômica.
Além dessas alterações, pesquisas já detectaram diferenças nas células da glia, que defendem os neurônios de apuros.

+ Leia Também: Síndrome rara está relacionada a milhares de casos de autismo
Os primeiros sinais
Geralmente, os sintomas iniciais do TEA dão as caras ainda nos primeiros meses de vida, mas o reconhecimento deles depende bastante da forma com que aparecem.
Marcos Vinicius, morador de Luzilândia, no interior do Piauí, não aparentava nada de diferente quando era pequeno: antes de 1 ano de idade, começou a andar, esboçar palavras como “papai” e “mamãe”, dar tchau para quem o chamasse e até repetir números que as pessoas falassem. Seus pais o achavam superdesenvolvido para um bebê.
“Mas, a partir de 1 ano e meio, ele parou de evoluir. Não falava mais, deixou de repetir as coisas, de olhar para elas, e achamos muito estranho. Resolvi pesquisar no Google as características dele, e batia exatamente com autismo”, conta John Moraes, pai do garoto, que tem hoje 10 anos.
Por muito tempo, casos como o de Marcos Vinicius eram chamados de “autismo regressivo”, mas atualmente há uma compreensão maior sobre isso.
“Não é que ele regride, é que chega uma idade, perto dos 2 anos, em que a demanda social exige mais do que o cérebro da criança consegue entregar, e é aí que sintomas mais característicos como as stins e as alterações de comportamento ficam evidentes, aparentando que ela deixou de evoluir”, expõe Fock.
São movimentos de autorregulação dos autistas. Servem para lidarem com a sobrecarga do ambiente, seja em aspectos sensoriais (luz, ruído, barulho…) ou emocionais. São tranquilizadores para eles, mas, dependendo do tipo de repetição ou da sua magnitude, podem causar problemas e precisarem ser adaptados/substituídos.
Nesse contexto, os experts pedem atenção com os atrasos de desenvolvimento — algo que as consultas periódicas com o pediatra ajudam a flagrar.
Nada deve ser menosprezado sob o argumento de que cada criança progride de um jeito e no seu tempo.
“Há uma orientação formulada pela Sociedade Brasileira de Pediatria de que se deve realizar um checklist do desenvolvimento das habilidades da criança ao longo do seu crescimento para identificar possíveis áreas de atenção que precisarão de um acompanhamento mais individualizado ou até mesmo de intervenções”, diz o médico Thiago Rocha, consultor de psiquiatria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e do Hospital Moinhos de Vento.
+Leia Também: Como saber se a criança está apresentando o desenvolvimento adequado?
Os sintomas mais conhecidos do autismo na primeira infância são: atraso de fala, falta de contato olho no olho, ausência de reação ao próprio nome, interesse diminuído por interações sociais, comportamentos repetitivos… Mas nem todo mundo carrega o pacote completo.
“Existem casos em que a criança olha no olho. Fala, mas é reservada. Prefere ficar sozinha mas até brinca com os coleguinhas se for preciso. Mais do que uma criança introspectiva, pode ser um autista nível 1, que só será diagnosticado anos mais tarde”, exemplifica Polanczyk.
O professor da USP também sugere atenção mais detida aos pequenos que são independentes demais antes do tempo.
“Tem criança que, com 1 ano e meio, vai até o filtro, coloca um banquinho e tenta pegar água sozinha, e isso pode ser um reflexo de que ela não entende que, se falar ‘água’, o pai vai dar para ela. Nesse caso, a autonomia pode ser sinal de uma falta de percepção e de compreensão do mundo à sua volta”, explica o psiquiatra.
Sim, as coisas podem ser bem sutis e complexas. Geralmente, o diagnóstico não é feito numa única consulta médica; muitos casos demandam uma equipe multiprofissional, com pediatras, neurologistas, psiquiatras e psicólogos, capacitada para identificar a condição, usando ferramentas validadas como o Protocolo de Observação para o Diagnóstico de Autismo.
“Ter apenas um ou outro sinal não dá diagnóstico. Alguns transtornos de linguagem podem ser semelhantes na infância, então cabe ao profissional avaliar se há ou não outras características do autismo, que na verdade é uma constelação delas”, afirma a pediatra Raquel Del Monde, especialista em autismo e mãe de um adulto no espectro.
Parece, mas não é
Essas condições podem vir associadas ao autismo, mas são coisas diferentes
- Síndrome de Rett
Gera regressão do desenvolvimento por volta dos 18 meses de vida. Diferentemente do TEA, é causada por mutação em um gene específico, o MECP2. - Síndrome do X frágil
Há alterações no comportamento e na capacidade intelectual por causa de uma mutação no gene FMR1. Pode ser detectada por exames genéticos. - Hiperlexia
Faz com que a criança tenha muita facilidade com letras e números, mas atraso em outras áreas. Pode estar associada ao TEA, mas não é uma regra. - Dislexia
Gera dificuldade na linguagem escrita ou gráfica. É um neurodesenvolvimento atípico, mas não apresenta padrões repetitivos como TEA. - TDAH
Não gera dificuldade de socialização, apenas de concentração. Também é um desenvolvimento atípico do cérebro e é comum vir junto do TEA, mas é outra coisa.

O diagnóstico do autismo é clínico, exigindo um bom conhecimento técnico sobre a condição e uma sensibilidade para diversas nuances. Mas muitos profissionais não estão habilitados para fazer o reconhecimento do TEA.
Nesse cenário, que é comum em todo o Brasil (principalmente fora dos grandes centros), alguns projetos visam aumentar a capacitação dos especialistas da rede pública: um deles, uma parceria do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS) com o Ministério da Saúde, oferece cursos a distância sobre identificação precoce do TEA a profissionais da saúde básica e demais interessados na temática.
Até agora, cinco Centros de Atenção Psicossocial Infantojuvenis (CAPSi)/ Centros Especializados em Reabilitação (CER), um em cada região do país, farão parte do projeto. Ao todo, cerca 3 mil especialistas serão selecionados e tutorados até o final de 2023.
“E isso vai abranger diversos profissionais da saúde, não apenas médicos. Inclusive, foi solicitado que educadores sejam capacitados, porque muitas vezes são eles que, num momento mais tardio, acabam detectando os primeiros sinais”, afirma Renata Kochhann, psicóloga e líder operacional do projeto.
Quanto antes o diagnóstico vier, melhor. Eis uma frase que também se aplica ao autismo. Isso porque a base do tratamento é estimular e contornar as dificuldades e limitações de cada paciente, algo que pode envolver médico, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, educador físico…
Começar a intervir cedo é o ideal devido a um fator chamado plasticidade cerebral. É a capacidade de os neurônios se moldarem a estímulos e situações — e ela é potente na infância.
Quanto mais tempo passa, mais difícil fica modular alguns circuitos cerebrais, gerando toda uma onda de repercussões cognitivas, emocionais e sociais. Que o digam os autistas que só se descobriram assim na vida adulta.
+Leia Também: Os diferentes olhares sobre o autismo
Quando a explicação vem tarde
“Recebi o diagnóstico aos 41 anos. Não tive atraso para andar ou falar, mas desde criança era tachada de tímida, seca e cheia de frescuras. Tinha dificuldades de socialização, seletividade alimentar, por causa de cheiros e texturas, e resistência a alguns tecidos de roupas”, recorda a terapeuta ocupacional Ana Amélia Cardoso, professora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
“A adolescência foi minha pior fase, justamente por ser quando todo mundo anda em grupo. Nunca gostei de ir a barzinho e jogar conversa fora, sempre preferi conversar sobre assuntos de que eu gostava e dominava”, continua.
Os desafios persistiram: “A faculdade também foi superdifícil, principalmente porque os horários das aulas mudavam e eu precisava de uma rotina organizada para conseguir levar a minha vida. Aos 25, fui diagnosticada com depressão e ansiedade, mas cogitaram transtorno borderline e até bipolaridade”.
Ana Amélia afirma que sempre se julgou por ser diferente, e que só conseguiu o diagnóstico correto depois de fundar o Praia, um grupo de extensão sobre autismo na UFMG.
“Depois de ler uma história em quadrinhos em que a protagonista é autista, minha mãe olhou para mim e disse que sabia o que eu tinha. Aquilo foi um divisor de águas, e minha vida mudou”, relata.
O livro a que a professora se refere virou best-seller: é A Diferença Invisível (clique aqui para comprar), de Julie Dachez, francesa que também faz parte do espectro.
“Mesmo eu já suspeitando, o diagnóstico foi um baque no início. As pessoas falavam ‘Como você pode ser autista tendo um doutorado?’ Foi uma luta interna e externa por aceitação”
Ana Amélia Cardoso, professora universitária com autismo
Assim como Ana Amélia, muitas pessoas com TEA nível 1 de suporte ficaram invisibilizadas na infância.
“É preciso deixar claro que nós, autistas, não estamos impossibilitados de nos comunicar ou interagir socialmente. Temos dificuldades, sim, mas isso varia bastante”, esclarece Valverde.
Fora isso, existem peculiaridades do autismo em mulheres.
“Apesar de os homens também fazerem, elas parecem ter uma capacidade maior de realizar o masking, seja por características intrínsecas, seja por questões culturais. Imitar as pessoas que têm um comportamento mais aceito faz o autista mascarar suas características típicas, o que pode tornar o diagnóstico e o acesso às terapias mais difíceis, diz o psicólogo Lucas Pontes, que é autista e dono do perfil no Instagram @lucas_atipico.
“É por isso que ainda se questiona a baixa incidência do autismo nelas”, acrescenta Valverde.
É a capacidade que alguns autistas desenvolvem de esconder suas características típicas e imitar os comportamentos mais aceitos pela sociedade. Isso inclui reprimir stins, fingir conforto em situações sociais e até se colocar em lugares que podem ser estressantes a eles.
As particularidades do espectro no gênero feminino levantam dilemas que vão muito além das dificuldades óbvias.
“Logo que eu tive a minha filha, além da privação de sono, o que mais era difícil de lidar era com a imprevisibilidade de um bebê. Eu tinha crises por isso, ao mesmo tempo que precisava cuidar dela. E não era só ficar ansiosa: era ter taquicardia, diarreia, coisas que atrapalhavam muito”, lembra Ana Amélia.
“Tenho certeza de que a minha depressão é consequência de todas as dificuldades acumuladas ao longo dos anos, porque eu realmente não sabia lidar com aquilo nem tinha as ferramentas necessárias. Hoje, graças à terapia, consigo me adaptar e entender melhor as regras sociais”, desabafa a professora.
Como ilustra o caso de Ana Amélia, o diagnóstico não é apenas um rótulo.
“Muitas dúvidas a respeito de si e das próprias características podem ser esclarecidas por esse diagnóstico, gerando até um conforto referente a sensação de não pertencimento a grupos e a vida social como um todo. É o alívio por ter uma explicação”, analisa Thiago Rocha.
“O diagnóstico não é o fim, mas sim o início de um processo. A partir dele, pode-se ter um planejamento de ações para que a pessoas receba a ajuda necessária”, diz o psiquiatra de Porto Alegre.

Sim, mas é necessário averiguar a procedência dele. Se você é adulto e suspeita que tem traços da condição, um dos questionários mais clássicos e recomendados é o AQ (Autism Spectrum Quotient), desenvolvido pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Para que ele funcione, é essencial ser extremamente sincero ao responder e não tentar mascarar o que verdadeiramente sente. E, a despeito do resultado, ele não dá um diagnóstico. Apenas profissionais de saúde capacitados podem bater esse martelo em definitivo — para crianças ou adultos.
+Leia Também: Por dentro da linguagem do autismo
Lutando por direitos
As terapias podem trazer benefícios mesmo se implementadas tardiamente. Não é o cenário ideal, mas, sem dúvida, o suporte especializado melhora a qualidade de vida. O problema é que o acesso a ele ainda é penoso no Brasil.
Nicolas, o filho de Ana Paula, também desenvolveu mutismo seletivo e precisou sair da clínica em que fazia terapia justamente quando começou a apresentar avanços — ele conseguiu falar com a psicóloga depois de dois anos.
O motivo? O preço das sessões dobrou. Seus pais trocaram o estabelecimento, porém notaram que o novo atendimento não era tão bom. Então se esforçaram para arcar com o local antigo em prol do filho.
Vinicius, mesmo tendo sido diagnosticado aos 3 anos, nunca teve acesso pleno ao tratamento multiprofissional de que necessita.
Morando no interior piauiense, precisava viajar até a cidade vizinha para ser assistido pelo SUS uma vez por semana.
Há dois anos, após a prefeitura de Luzilândia abrir um centro público voltado ao autismo, ele não precisa mais pegar estrada, mas só recebe atendimento duas vezes por semana — aquém do que seria recomendado para o seu caso, uma vez que ele ainda não fala e não consegue aprender.
No município de 25 mil habitantes, há mais de 100 crianças autistas na fila de espera por uma vaga.
+Leia Também: Decisões judiciais obrigam planos a custear tratamento integral do autismo
Como se percebe, políticas públicas são essenciais para melhorar a inclusão dos autistas.
Em 2020, a Lei Romeo Mion (homenagem ao filho mais velho do apresentador Marcos Mion, que é autista) criou a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), que visa garantir atenção integral, pronto atendimento e prioridade no acesso a serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social.
Essa legislação é fruto de um projeto da então deputada federal Rejane Dias, que é mãe de uma adulta no espectro. Mas, apesar de já ser lei federal, a iniciativa ainda não foi completamente adotada.
“Quando estive na câmera, lutamos muitos para que a carteira tivesse efetividade, mas até agora a gente sabe que ela ainda não é considerada em todos os estados do país”, lamenta Rejane, hoje Conselheira do Tribunal de Contas do Piauí.
“Aqui no nosso estado, como também existe uma lei estadual sobre isso, as coisas já estão bem mais avançadas. Mas nos resta cobrar para que a execução ocorra no Brasil todo, porque essa prioridade é essencial”, acrescenta.
A Conselheira também toca num assunto essencial: a coleta de dados sobre autismo. No Brasil, não há números oficiais sobre a quantidade de autistas – tudo que temos é a estimativa geral da ONU, que fala em 2 milhões de pessoas. Mas os especialistas apostam que são muito mais.
“Mapear e ter dados confiáveis é essencial para a promoção de políticas públicas. Quantas pessoas com autismo nós realmente temos, qual a situação econômica, social, escolar delas? Essas informações são necessárias para o seguimento ter mais investimento, e a carteira vai auxiliar nisso”, explica Rejane.
Enquanto a Ciptea ainda luta por efetividade, pelo menos o Censo Demográfico deste ano vai perguntar sobre autismo.
+Leia Também: Autismo: como cuidar da saúde bucal de crianças com o transtorno
Por lei, cidadãos autistas são considerados pessoas com deficiência. Assim, já são estendidas a eles uma série de direitos.
É proibido negar a matrícula escolar devido à condição, e as crianças com TEA têm direito a um acompanhante terapêutico na sala de aula e até a um plano de educação individualizado, por exemplo.
Mas a maioria das instituições de ensino não está preparada para atender a essas demandas.
“O professor precisa entender que o aluno autista faz parte, precisa estar integrado à turma. O papel do terapeuta que o acompanha é muito importante para mediar a relação de uma criança que requer um maior grau de suporte com seus colegas e com o próprio aprendizado”, justifica Adriana Pereira Borges, professora de políticas públicas de educação especial e inclusão na Faculdade de Educação da UFMG.
“É preciso também que o professor trabalhe a turma para que os colegas consigam acolher o aluno autista, que às vezes pode se mexer muito, fazer movimentos repetitivos ou mesmo emitir sons estranhos. Estar em contato com a diversidade só acrescenta”, complementa a também integrante do Praia.
Em casos de crianças, esse trabalho de adaptação pode ser em conjunto com os pais: agora que Nicolas fez 7 anos e tem aulas com várias professoras diferentes, Ana Paula fez uma carta de apresentação do filho para entregar para cada um dos docentes.
Nela, explica que Nicolas é autista nível 1 de suporte e tem mutismo seletivo, conta o que ele gosta e dá dicas para se comunicar com ele não verbalmente. Também reforça que ele tem o aprendizado absolutamente normal, só precisa de adaptações, atalhos e paciência.
“Isso ajudou bastante no relacionamento com os professores, que sabem lidar melhor com o Nicolas. Agora, aliás, ele fez uma prova de inglês, em uma salinha separada por conta do barulho e com uma monitora, e gabaritou a prova. O problema dele não é intelectual, é só adaptar que ele aprende”, conta Ana Paula.
E é essencial lembrar que os autistas adultos também precisam de auxílio e adaptações. “Eu fiz questão de falar meu diagnóstico quando entrei na faculdade de psicologia para ter um respaldo acerca das minhas dificuldades”, conta Lucas Pontes.
“Seminários, trabalhos em grupo, e principalmente surpresas na aula, como quando o professor falava que íamos ao laboratório, me incomodavam muito. Eu tinha dificuldades para interagir e a imprevisibilidade atrapalhava”, explica o psicólogo.
Falando sobre inclusão, dentro do ativismo em defesa do autismo, ganha cada vez mais espaço um movimento conhecido como neurodiversidade.
Ele defende que o nosso cérebro pode funcionar de maneiras diferentes, e que essas divergências são variações naturais, e não problemas a serem curados.
Corrente que defende que o desenvolvimento atípico do cérebro é uma manifestação da diferença humana, não uma doença. O conceito foi criado pela socióloga austríaca Judy Singer, que é autista nível 1. Abrange TEA, TDAH, dislexia, e está em aberto para abarcar mais condições.
O movimento tem ajudado os autistas a lutarem por mais políticas de inclusão e pela redução do estigma: apenas 0,05% dos estudantes de ensino superior têm autismo e 85% dos autistas estão desempregados no Brasil.
Outra preocupação é a maior incidência de transtornos mentais entre pessoas no espectro: o índice estimado de depressão em autistas varia de 10 a 50%, enquanto em neurotípicos (as pessoas não autistas) fica na casa de 7%. O número de suicídios entre autistas é 55% maior do que na população em geral.
Não confunda as coisas
Neurodesenvolvimento atípico
Algumas condições neurológicas se devem a diferenças na evolução cerebral
- TEA
O espectro do autismo é caracterizado por limitações sociais, déficits de comunicação e padrões estritos de interesses ou comportamentos. - TDAH
Envolve dificuldade de concentração, inquietação e movimentação contínuas… Se não tratar, prejudica o aprendizado. - Dislexia
A pessoa pena para decodificar símbolos escritos ou gráficos. Isso pode comprometer a leitura, a escrita a e interpretação de texto se não for trabalhado. - Dispraxia
Atinge principalmente a coordenação e a execução de movimentos, como andar, comer, pular, se vestir. Pode render atraso de fala.
Transtornos psiquiátricos
O autismo não entra nessa categoria. Mas pessoas do espectro podem ter problemas dessa ordem também
- TOC
O transtorno obsessivo-compulsivo gera ideias fixas e comportamentos complexos e regrados, que prejudicam a qualidade de vida. - Bipolaridade
Marcada por oscilações intensas de humor, entre a depressão e a euforia, que comprometem a rotina. Está relacionada a fatores genéticos e ambientais. - Depressão
Desequilíbrio na bioquímica cerebral que resulta num estado emocional abalado, com tristeza profunda e redução de interesse e prazer pela vida. - Fobia social
Também chamada “fobia de avaliação”, é caracterizada por um medo constante de julgamento, o que gera temor intenso nas interações sociais.

A causa da neurodiversidade é positiva, no entanto também recebe críticas. Pais de autistas que necessitam de grande suporte afirmam que ele escanteia, sem querer, as pessoas com quadros sérios e maior dependência, que se beneficiariam com tratamentos e até medicações.
O cientista brasileiro Alysson Muotri, que é pai de uma criança autista e desenvolve pesquisas com minicérebros (modelos de laboratório que simulam os cérebros autistas) na Universidade da Califórnia (EUA), defende que, em qualquer conversa sobre autismo, é importante especificar de quem estamos falando.
“A busca por novos tratamentos não é voltada a todos os autistas. É para aqueles que precisam de mais ajuda e não conseguem se desenvolver”, explica.
Lucas dá um passo além: “Não se deve buscar a cura do autismo, e sim melhores tratamentos, para não acabarmos flertando com a eugenia”.
Definitivamente, estes são tempos de redescobrir e ressignificar o autismo. Não dá mais para deixá-lo na invisibilidade.





 Chá de amora: conheça os benefícios e como preparar
Chá de amora: conheça os benefícios e como preparar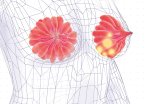 Câncer de mama: plataforma inteligente detecta e perfila a doença
Câncer de mama: plataforma inteligente detecta e perfila a doença Toranja: fruta combate os radicais livres. Conheça seus benefícios
Toranja: fruta combate os radicais livres. Conheça seus benefícios Semaglutida: estudo mostra efeito em casos avançados de gordura no fígado
Semaglutida: estudo mostra efeito em casos avançados de gordura no fígado A cor da dor: população negra tem menos acesso a cuidados paliativos
A cor da dor: população negra tem menos acesso a cuidados paliativos