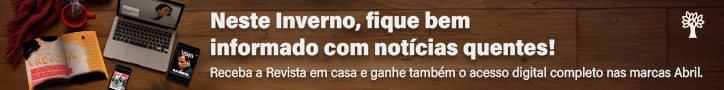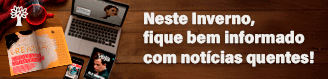Virada de jogo: evolução da medicina revoluciona o tratamento do HIV
Ao longo de quatro décadas, o tratamento evoluiu a passos largos. E, agora, não é mais preciso tomar um coquetel para zerar a carga viral
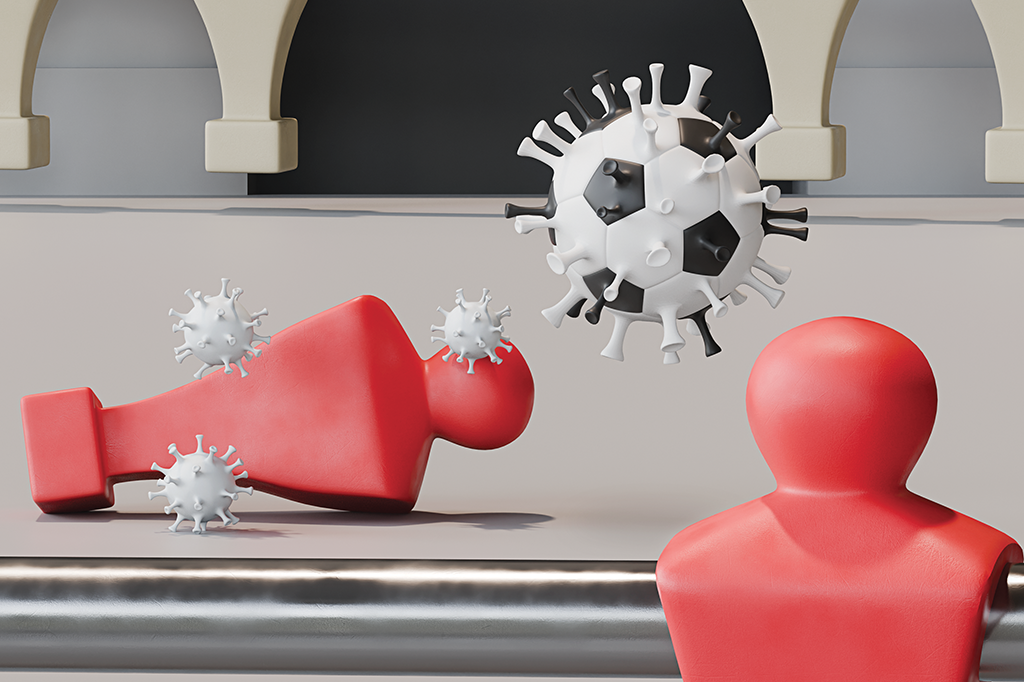
Existem diversas maneiras de contar a história da epidemia de HIV e aids, que irrompeu no início dos anos 1980. Uma delas, dramaticamente bem-sucedida, é a do ponto de vista dos medicamentos.
Os avanços nesse sentido foram — e ainda são — cruciais para salvar vidas e transformar o jeito que a sociedade lida com a infecção ainda sem cura, mas passível de um controle exitoso.
O primeiro antirretroviral para conter o HIV foi aprovado em março de 1987 pela agência regulatória dos Estados Unidos. Era a zidovudina, amplamente conhecida como AZT. Desenvolvida na década de 1960 para o combate ao câncer — tarefa para a qual não foi satisfatória —, ela inaugurou uma rota de esperança diante do vírus que subjuga as defesas do organismo.
+ Leia também: HIV: a importância do conceito “Indetectável = Intransmissível”
“Depois de comprovada a eficácia em culturas de células em laboratório, os ensaios clínicos mostraram que o AZT trazia benefícios inclusive para pacientes já no estágio de aids”, conta o farmacologista Lucas Gazarini, professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).
A essa droga, que chegou ao Brasil em 1991, passando a ser disponibilizada pelo sistema público de saúde desde então, seriam acrescidos, com o tempo, outros antivirais testados e validados. Foi assim que surgiu o conceito de coquetel: uma gama de princípios ativos para desarmar o vírus em várias frentes. Crescia o número de medicações, crescia o número de brasileiros atendidos e tratados.

A chave é a replicação
Para entender como os antirretrovirais agem e por que esse capítulo foi determinante no enfrentamento da aids, é preciso ter em mente que vírus são estruturas moleculares bastante simples, compostas basicamente de material genético e proteínas. Por isso, precisam necessariamente da maquinaria presente nas células de um hospedeiro para se replicar.
O HIV, por exemplo, adere principalmente a células do sistema imune, os linfócitos T CD4+. Aqui há uma particularidade: o genoma do patógeno é uma fita de RNA, diferentemente da maior parte dos seres vivos, incluindo os humanos, cuja orquestra genética é o DNA.
“Por essa razão, ao entrar na nossa célula, o HIV precisa converter seu material genético de RNA para DNA. Só dessa forma será capaz de produzir cópias do vírus”, descreve Gazarini. Esse processo, por sua vez, depende de uma enzima viral chave, a transcriptase reversa (guarde esse nome!).
Em sua composição, o AZT imita características químicas de uma parte específica da estrutura do DNA, a timidina. E é aí que enganamos o agente infeccioso. Na tentativa de converter seu material genético, o HIV incorpora o fármaco à sua fita de DNA recém-criada. “Quando isso acontece, o remédio acaba bloqueando a replicação do DNA e, por extensão, do vírus”, explica o professor da UFMS.
Essa pegadinha diante do patógeno foi um marco no tratamento. Mas, apesar do avanço naquele momento crítico da epidemia, o AZT apresentava limitações e um conjunto de efeitos colaterais. Isso porque atingia não somente as células infectadas, mas também as saudáveis, gerando problemas como redução na produção de glóbulos vermelhos e brancos.
Por essa razão, eram comuns casos de anemia e sintomas como fadiga, fraqueza e falta de ar nos pacientes. Felizmente, o trabalho da ciência não parou por aqui. Outros capítulos dessa história seriam escritos; e medicamentos, inventados.
+ Leia também: Por que as complicações da aids ainda causam tantas mortes no Brasil?
Para o controle mais efetivo do HIV, ficou comprovado que seria necessário combinar diferentes estratégias e mecanismos de ação complementares para boicotar o vírus nas fases de sua replicação.
“Desde 1987 até metade dos anos 1990, os medicamentos que foram criados após o AZT passaram a ser combinados em esquemas com duas drogas. No entanto, mesmo com a terapia dupla, não se conseguia baixar a carga viral a um nível baixo o suficiente para controlar a infecção. Por isso, tivemos de partir para uma terapia tripla”, recorda o infectologista Álvaro Furtado, do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP).
Lembra-se de que a zidovudina atuava sobre uma enzima de nome difícil, a transcriptase reversa? Pois bem, com o avanço científico, foram formulados compostos capazes de agir sobre outros pontos que envolvem a multiplicação do HIV. Ainda com foco nessa mesma enzima, novas medicações foram concebidas para ter uma ação ainda mais direta. E assim surgiram os chamados inibidores não nucleosídeos da transcriptase reversa.
No entanto, era preciso dar passos além. Pois o vírus recruta outras enzimas em seu ciclo reprodutivo. E foram elas — essas pecinhas cruciais para reações químicas acontecerem — que se tornaram alvo de novas terapias.
Sob essa perspectiva, a partir de meados dos anos 1990, desponta outra classe farmacológica, os inibidores de protease. Sua chegada dá início ao que se convencionou chamar de coquetel de antirretrovirais, tática que se consagrou determinante na história do tratamento.
O termo, que remete à mistura de duas ou mais bebidas alcoólicas, foi inspirado no aspecto visual da terapia, geralmente feita a partir da ingestão de diversas pílulas diariamente. O protocolo tinha como base a combinação de AZT, lamivudina (3TC) e indinavir, ofertados no país a partir de 1996.
“Naquela época, esse era o estado da arte para tratar pessoas com HIV, mas com uma quantidade substancial de comprimidos e um número significativo de efeitos adversos”, pontua Furtado, que atua há mais de 20 anos no atendimento a pacientes que vivem com o vírus.
A guinada científica foi acompanhada de uma preocupação com o acesso a seus frutos. Um marco estabeleceu a disponibilização gratuita e universal ao tratamento de HIV e aids no Brasil em 1996, com a Lei nº 9.313.
“O país acompanhou de perto a evolução da terapia antirretroviral, com certos atrasos em relação à chegada de algumas tecnologias. Contudo, essa legislação do SUS foi realmente fantástica para oferecer o tratamento a todos que vivem com HIV, independentemente se o acompanhamento médico era feito no serviço público ou no privado”, conta o infectologista da USP.

Novas drogas, novos conceitos
Os avanços não vieram isentos de desafios. “Todo o paradigma da terapia do HIV foi sacudido porque introduzimos também inúmeros conceitos no tratamento e no acompanhamento dos pacientes”, destaca o médico Jamal Suleiman, do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo.
Referência nacional na área, a instituição recebeu os primeiros pacientes com aids no Brasil, no início da década de 1980, quando era comum que unidades se recusassem a realizar o atendimento, devido ao medo de uma doença desconhecida. Suleiman, que se dedica ao cuidado de pessoas com HIV e aids há 30 anos, viu de perto os primeiros passos da nova era terapêutica, de 1996 em diante.
Naquele momento, foram pensados, avaliados e estabelecidos parâmetros considerados essenciais para o acompanhamento de pacientes, os quais são utilizados até os dias atuais.
Um exemplo foi o acordo sobre um marcador laboratorial para a avaliação da imunidade, a contagem de células T CD4+, o alvo preferencial do vírus. Essa monitorização periódica, viabilizada por meio de um exame de sangue, se tornou uma métrica da evolução do quadro clínico e do estado de saúde dos pacientes.
Uma pessoa com resultado do teste abaixo de 200 células por microlitro de sangue, por exemplo, está mais propensa ao desenvolvimento de infecções oportunistas e complicações, devido à redução das funções de defesa do organismo. Outro ponto de virada foi o desenvolvimento de testes cada vez mais precisos para estimar a carga viral, ou seja, a quantidade de vírus presente no sangue.
+ Leia também: Prevenção combinada: conheça as diversas estratégias para evitar infecções sexualmente transmissíveis (ISTs)
A evolução tecnológica permitiu que se detectassem níveis mais e mais baixos do patógeno na corrente sanguínea, um sucesso obtido principalmente pelo aprimoramento das medicações e pelo uso do coquetel. Para Suleiman, a elaboração desses marcadores foi uma etapa fundamental para medir a efetividade dos novos antirretrovirais.
“Algo que sempre falo durante minhas aulas sobre a história da aids é que esse momento realmente foi, no meu entendimento, mágico. Compreendemos que esses recursos definitivamente podiam mudar o curso da história, mas ainda havia algumas perguntas a serem respondidas”, relata o infectologista.
E muito trabalho a ser feito, não só dentro dos laboratórios e hospitais — afinal, ainda havia muito preconceito e desinformação à solta.
O anúncio do sucesso das pesquisas com os novos antirretrovirais aconteceu na 11ª Conferência Internacional de Aids, realizada em Vancouver, no Canadá, em 1996. De uma sentença de morte, como era vista nos anos 1980, a infecção pelo HIV começava a ser compreendida como uma condição crônica e controlável. Contudo, havia uma barreira importante a ser enfrentada.
A batalha global pela redução dos custos dos fármacos, que teve início assim que surgiram os primeiros produtos, se acirrava. Com a sanção da lei que estabelecia a oferta universal e gratuita da medicação por aqui, o Brasil começava a assumir um papel central diante do cabo de guerra com a indústria farmacêutica.
Além de políticas públicas que garantissem o acesso da população aos medicamentos de ponta, a revolução farmacológica exigia a criação de novos protocolos e diretrizes terapêuticas.
No país, grupos de trabalho se desdobraram para definir, em consenso, esse conjunto de critérios em articulação com o Ministério da Saúde. A partir de então, a disponibilização do coquetel antiaids começa a surtir seus efeitos. Entre 1996 e 1999, a mortalidade por causas associadas à doença apresenta uma tendência de queda, atingindo uma redução de pelo menos 33%.
“Os pacientes com terapia tripla começaram a ficar com a carga viral indetectável e vimos realmente um aumento da expectativa de vida. O desafio era melhorar, a partir daí, a qualidade de vida deles”, diz Furtado.
Com esse objetivo também em vista, os laboratórios continuaram a caçar compostos com maior capacidade de deter a replicação viral e com menos reações adversas. Como resultado, o número de comprimidos ingeridos todo dia foi sendo exponencialmente reduzido. As melhorias transformaram o tratamento, aumentando o bem-estar dos pacientes e desmistificando a ideia de que o controle do HIV requer “um coquetel de drogas”.
Hoje, o Brasil disponibiliza seis classes de antirretrovirais, divididas em 19 medicamentos que, por sua vez, são distribuídos em 36 apresentações farmacêuticas. Protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde indicam os regimes mais adequados para cada indivíduo, considerando fatores como idade, presença de coinfecções e período gestacional.
O esquema inicial deve incluir três medicamentos, de dose única diária, sendo contempladas ao menos duas classes diferentes. “No tratamento de uma pessoa que acabou de ser diagnosticada com HIV, é comum que a associação inicial seja de dois inibidores da transcriptase reversa, que em geral são lamivudina e tenofovir, junto com inibidor da integrase, que é o dolutegravir, um total de dois comprimidos”, exemplifica Gazarini.
Para os especialistas, a amplitude da lista está de acordo com a complexidade imposta pelo enfrentamento da infecção. Ao longo do tratamento podem surgir obstáculos, como a resistência do vírus diante de algum fármaco e o desenvolvimento de efeitos colaterais. Nesse caso, faz-se necessário mudar a abordagem terapêutica.

Mais um capítulo na história
Em 2024, o SUS inicia a oferta de um novo medicamento que simplifica o tratamento ao unir em um único comprimido de uso diário dois compostos: dolutegravir e lamivudina. Em janeiro, foram distribuídos mais de 5,6 milhões de unidades do produto, que é produzido nacionalmente pelo Instituto de Tecnologia em Fármacos da Fundação Oswaldo Cruz (Farmanguinhos/Fiocruz).
Devido à atual disponibilidade, a migração para a nova terapia vai acontecer de forma gradual e contínua. Para isso, o Ministério da Saúde estabeleceu como critérios, por ora, ter idade igual ou superior a 50 anos, adesão regular ao tratamento, carga viral menor que 50 cópias no último exame e ter iniciado a terapia dupla até o final de novembro de 2023.
“Quando pensamos nos benefícios ao paciente, a dose combinada facilita a adesão, por ser um único comprimido diário, garantindo a eficácia e a continuidade do tratamento. Além disso, há um menor potencial de toxicidade e de efeitos adversos graves, não havendo histórico de resistência ao vírus”, afirma Jorge Mendonça, diretor do Farmanguinhos.
Sim, estamos dando adeus à era do coquetel.
Apesar das inúmeras conquistas, o controle da epidemia de HIV — sim, a OMS fala em epidemia — ainda esbarra nos obstáculos de acesso e assistência.
No centro do problema está o estigma, que prejudica a detecção do quadro, a obtenção dos remédios ofertados de graça e seu uso adequado. A ausência ou demora no diagnóstico e a falta de tratamento são fatores críticos para o desenvolvimento da aids, a síndrome da imunodeficiência adquirida, o estágio severo da infecção que pode ser fatal.
+ Leia também: Estamos no caminho certo no combate ao HIV?
Entre 2007 e 2023, foram notificadas mais de 489 mil novas infecções no Brasil, sendo 43 mil somente em 2022. Embora tenha sido registrada uma queda de 25% na mortalidade nos últimos dez anos, o país está diante de uma grande desigualdade.
Em 2022, foram registrados quase 11 mil óbitos, o equivalente a cerca de 30 mortes diárias associadas a complicações da aids. Do total de vítimas, 61% eram pessoas negras (47% pardas e 14% pretas), enquanto 35% eram brancas. A desigualdade social e racial também interfere nessa história.
Essas questões não são página virada. “Há um determinante social com um peso enorme no acesso universal ao tratamento do HIV. Pessoas pretas, pobres e das periferias têm muito mais dificuldade em matéria de assistência à saúde do que os brancos das regiões centrais”, observa Suleiman.
Isso, claro, impacta inclusive as metas estabelecidas pela própria OMS para o controle da epidemia: ter no mínimo 95% dos indivíduos diagnosticados, 95% deles em tratamento e 95% destes com a carga viral indetectável. Convenhamos que, com um único remédio diário, fica mais fácil chegar lá.
As frentes da prevenção
Evitar que o HIV continue se alastrando tem tudo a ver com o tratamento. Isso porque uma pessoa com carga viral indetectável nos exames não transmite o vírus. Além dessa noção, durante muito tempo a prevenção esteve atrelada basicamente ao uso do preservativo — que continua importante.
Mas, com a inovação farmacológica, outra estratégia de contenção surgiu da década de 2010 em diante, a profilaxia pré-exposição (PrEP). Resultados de um amplo ensaio clínico, com 2 499 participantes, revelaram que medicamentos similares aos antirretrovirais do tratamento também eram capazes de impedir a transmissão mesmo com a exposição ao vírus em relações sexuais.
“Entre aqueles que estavam tomando as medicações de forma adequada, vimos uma redução de mais de 95% nas infecções por HIV, o que nos mostra que a PrEP, assim como a camisinha e a profilaxia pós-exposição [usar um medicamento logo após a suspeita de ter contraído o vírus], é uma maneira efetiva de prevenir a doença”, afirma o infectologista Rico Vasconcelos, da USP, um dos responsáveis pela condução da pesquisa no Brasil.
Em 2012, os Estados Unidos aprovaram o uso da PrEP como método preventivo sobretudo para populações em maior risco, como homens que fazem sexo com outros homens, pessoas trans e profissionais do sexo. Foi assim que começou a ganhar espaço, depois internacionalmente, o medicamento para essa finalidade de nome comercial Truvada.
Dezenas de outros estudos foram realizados mundo afora, com destaque para o projeto PrEP Brasil, liderado pela Fiocruz. Os resultados, animadores e publicados em periódicos de peso, subsidiaram a implementação da estratégia como política pública pelo Ministério da Saúde. Os medicamentos, que reduzem em cerca de 99% o risco de contrair o HIV nas relações sexuais, passaram a ser ofertados gratuitamente no final de 2017.

Atualmente, considerando o cenário epidemiológico nacional, a estratégia é indicada a pessoas a partir dos 15 anos de idade, com peso corporal igual ou superior a 35 kg, sexualmente ativas e em risco aumentado de infecção pelo vírus.
Questionado sobre a avaliação de impacto da profilaxia ao longo dos últimos anos, o governo afirmou que as análises de monitoramento apontam uma queda na ocorrência de novos casos nos municípios com maior número de pessoas em uso de PrEP. “Nesse sentido, podemos entendê-la como um indicador da qualidade das ações de prevenção, contribuindo para a redução da incidência do HIV”, conclui, em nota, o ministério.
A cidade de São Paulo, considerada um dos modelos de implementação, já cadastrou mais de 37 mil pessoas no serviço desde janeiro de 2018. Em um período de seis anos, a capital paulista registrou diminuição de 45% no número de novas infecções. Em 2022, foram 2 066 notificações, em comparação com 3 761 casos contabilizados em 2016.
De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, o perfil sociodemográfico do munícipe que acessa a profilaxia é principalmente de gays e homens que fazem sexo com homens (86%). Quanto à faixa etária, a maior parte dos usuários tem entre 30 e 39 anos (43%), seguida por indivíduos de 25 a 29 anos (22%) e entre 40 e 49 anos (18%). Por fim, 60% das pessoas que fazem uso da PrEP são brancas ou amarelas, 26% pardas e 13% pretas.
A PrEP consiste no uso de fármacos orais ou injetáveis que bloqueiam as vias utilizadas pelo vírus para infectar o organismo. A forma mais comum, e a única disponível na rede pública, é via comprimido.
+ Leia também: Racismo e pobreza prejudicam combate à aids
Os medicamentos podem ser tomados em duas modalidades, diariamente ou sob demanda, de acordo com a escolha individual. Na primeira, são ingeridos de maneira contínua. Na forma personalizada, a medicação é utilizada apenas quando existe a possibilidade de se expor ao contágio. Já a versão injetável de longa duração, com o fármaco cabotegravir, está aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não disponível pelo SUS — a aplicação ocorre a cada dois meses.
Não deixar espaço para o vírus circular: essa é a premissa que norteia há décadas a ciência diante do HIV, um vírus que, direta ou indiretamente, transformou ideias, conceitos e comportamentos, não apenas no universo da medicina.
A história da evolução dos medicamentos é também a história de superação e engenhosidade para salvar vidas e mudar destinos. Mais de 40 anos depois, os desafios não cessaram, mas as linhas desse enredo já são bem mais felizes e auspiciosas.


 Vitamina D3: o que é e qual a diferença para a vitamina D “normal”?
Vitamina D3: o que é e qual a diferença para a vitamina D “normal”? Atividade física é remédio: uma conversa com o pai do exercício aeróbico
Atividade física é remédio: uma conversa com o pai do exercício aeróbico Filhos únicos que cuidam dos pais idosos sofrem com altos níveis de estresse
Filhos únicos que cuidam dos pais idosos sofrem com altos níveis de estresse O legado montessoriano para a mente e a educação das crianças
O legado montessoriano para a mente e a educação das crianças Cozinhe pelo seu bem: entenda como esse hábito pode salvar sua saúde
Cozinhe pelo seu bem: entenda como esse hábito pode salvar sua saúde