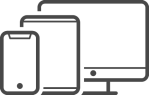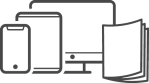O ano é 1988 e o mês, outubro, o mesmo em que esta reportagem chega às suas mãos. Mas o Brasil era bem diferente. A nação estava efervescente, enfim livre da ditadura, com sede de colocar em prática sonhos gestados por décadas, num tempo em que sonhar era difícil e até perigoso.
Esse também era um país de muita gente doente e falida, com preços inflacionados em tudo que é canto. Só tinha atendimento médico gratuito quem tinha carteira assinada, por meio do sistema previdenciário, ou quem pudesse pagar por ele.
O restante da população precisava recorrer a hospitais universitários ou instituições filantrópicas como as santas casas. A infraestrutura, claro, não dava conta. E, não à toa, os brasileiros enfrentavam surtos recorrentes de infecções e filas de espera enormes por consultas, exames e cirurgias — muitos morriam sem nem ser atendidos.
“Era um cenário de abandono”, resume o médico Paulo Capel Narvai, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP).
É nesse contexto que nasce o Sistema Único de Saúde (SUS), um filho da nova Constituição Federal, assinada em 8 de outubro daquele ano. Ali estava escrito que a saúde era um direito de todos os cidadãos e um dever do Estado.
Gratuito, universal e integral, o SUS foi concebido coletivamente, em conferências que mobilizaram milhares de pessoas, entre profissionais de saúde, gestores públicos, entidades de classe, acadêmicos e a sociedade civil.
Essa movimentação confirmava uma ideia que segue em nosso horizonte: a de que saúde e democracia andam lado a lado. “As Diretas Já! [campanha que pedia a volta das eleições] foram a mãe do SUS”, escreve Narvai, um dos atores dessa história, no livro SUS: Uma Reforma Revolucionária (Autêntica) (clique para comprar*).
Ambicioso, o SUS pretendia alcançar todos os brasileiros, dividindo responsabilidades entre governo federal, estados e municípios. E logo se tornou referência mundial, mudando o perfil de saúde do país.
“Saímos de uma das maiores mortalidades infantis do mundo, de 53 óbitos a cada mil nascidos vivos, para 12 óbitos. Estamos falando de mais de 80% de queda”, conta o médico sanitarista Adriano Massuda, professor da Fundação Getulio Vargas (FGV), em São Paulo.
+ Leia também: Os números não mentem: entenda a matemática das vacinas
Muito mérito das vacinas, que começaram a ser compradas e distribuídas sistematicamente pelo Estado. A expectativa de vida do brasileiro, que era de 62 anos em 1980, saltou para 76 em 2019. E hoje mais de 60% dos brasileiros têm acesso à rede de atenção primária — o primeiro degrau de assistência à saúde, com consultas, orientações e oferta de imunizantes e alguns exames — por meio das Unidades Básicas de Saúde (UBS).
Mesmo que você não use o SUS na rotina, é bem provável que tenha passado por um posto nos últimos anos para tomar vacinas, entre elas a da Covid-19.
E é um engano pensar que o sistema público não tem nada a ver com a vida de quem possui convênio ou custeia seus cuidados médicos.
Todo mundo depende, em alguma medida, do SUS. Narvai dá alguns exemplos. “Você acorda e lava o rosto numa água tratada. Quem vigia a qualidade dessa água é a rede do SUS. Depois escova os dentes com uma pasta analisada e certificada por uma agência vinculada ao SUS, que também inspeciona a qualidade da manteiga e do leite do seu café da manhã”, ilustra o médico.
Se, por acaso, sofrer um acidente no caminho para o trabalho, é o SUS que fornece ambulâncias para levá-lo a um hospital — e, dependendo da urgência, será tratado ali sem custo algum. Não para aí! Hoje, mesmo que você tenha plano de saúde, provavelmente só terá acesso a um transplante de órgãos ou a medicamentos caros por meio desse sistema.
Claro, o SUS está longe de ser perfeito. Mas, segundo os especialistas, o problema não vem da concepção, mas do financiamento e da aplicação dos recursos: a rede pública passa por uma carência crônica de verbas, que se agravou nos últimos anos.
“Além de subfinanciado, ele tem sido mal administrado. A abordagem do atual governo é um desastre, para usar uma palavra razoável”, afirma Narvai.
Há quem diga que o que pega, na verdade, é a tal má gestão. Pode até ser verdade em algum nível, mas os números evidenciam que o sistema faz muito com pouco.
Vejamos. O gasto nacional em saúde responde por quase 10% do produto interno bruto (PIB). Mas apenas 42% desse dinheiro é gasto pelo governo. O restante é desembolsado por pessoas e empresas — que, diga-se de passagem, muitas vezes penam com as mensalidades dos convênios e serviços longe do ideal. “Nos países desenvolvidos, o governo é o responsável por pelo menos 70% dos gastos”, compara Massuda.
O Brasil não é um país rico, mas, se fizesse uma revisão das prioridades, poderia achar uma saída para a crise social e econômica que atravessa — e dialoga diretamente com o SUS.
Não se trata de escolher entre a saúde pública e privada. O sistema é “único” por, em teoria, colocar todo mundo para trabalhar junto. E, em ano eleitoral, o debate sobre o tema não poderá ficar em segundo plano. Pelo bem do coletivo e do individual.

Senti na pele o que é depender do SUS. Em 2018, eu trabalhava como freelancer, sem carteira assinada, e não tinha plano de saúde. Comecei a sentir uma dor na perna direita, na altura da bacia, e busquei um médico particular, daquelas redes de consultas populares, para investigar o que era. Descobri uma necrose do fêmur, problema que exigiria uma cirurgia caríssima, para a colocação de uma prótese de quadril.
Teria que tentar operar pelo sistema público. Busquei, então, a principal porta de entrada do SUS, a UBS. De um postinho que conhecia tão bem, na zona leste paulistana, fui encaminhada para um ortopedista e, depois, entrei na fila de espera por um especialista em quadril.
Mas já demorava demais e… desisti. Apertei as contas para pagar um convênio e consegui fazer a cirurgia em 2020. Quatro anos depois do início do périplo, recebi uma ligação perguntando se eu ainda precisava do especialista gratuito. Era tarde.
Por sorte, tive recursos para financiar meu tratamento.
Mas, para a maior parte dos brasileiros com necrose no fêmur e tantas outras condições que demandam uma assistência mais complexa, não é assim. A espera pelos serviços especializados, procedimentos e equipamentos mais caros e centros bem estruturados continua sendo um dos principais gargalos do SUS.
Dependendo de onde o paciente mora, pode levar meses ou anos para fazer um diagnóstico correto e haverá outro chá de cadeira para iniciar o tratamento.
Isso é preocupante, sobretudo quando pensamos em doenças como o câncer, que vitima mais de 200 mil pessoas por ano e expõe as desigualdades de acesso entre o setor público e o privado.
BUSCA DE MEDICAMENTOS

Consulte remédios com os melhores preços
Como o tempo é crucial para a perspectiva de cura, duas leis foram aprovadas para lidar com essa questão. Uma diz que o indivíduo com suspeita de câncer deve ter acesso aos exames que fechem o diagnóstico em até 30 dias. A outra manda que o tratamento comece em até 60 dias depois da confirmação.
Bonito na teoria, mas na prática… Pouco mais de 35% das mulheres paulistas começam a se tratar depois desse prazo. Já no Amazonas, o número sobe para perto de 60%.
“A gente percebe, inclusive por meio de estudos, que o meu SUS não é necessariamente o seu SUS”, diz Luciana Holtz, presidente do Instituto Oncoguia, que batalha para melhorar esse cenário.
Além disso, os tratamentos disponíveis hoje gratuitamente estão defasados em relação à oncologia privada. Mesmo quando uma novidade é incluída em diretrizes do Ministério da Saúde, nem sempre é adotada, pois há uma tabela definindo o valor para procedimentos de alta complexidade a ser pago pelo SUS, e esse valor pode não condizer com o preço real no mercado.
“Tem medicamento que consta, na tabela, ao preço de 7 mil reais, mas, na verdade, custa 13 mil”, exemplifica Luciana. Aí vai depender da instituição que tem mais recursos oferecer ou não a terapia. E, não raro, quem tem mais recursos são as fundações ou entidades privadas que prestam serviço ao SUS — e mesmo elas já não dão conta dos repasses defasados.
Resolver os imbróglios do acesso, sem esquecer a sustentabilidade do sistema, deveria ser uma das prioridades do governo, na visão dos especialistas.
“É um ponto crítico, porque hoje as pessoas não estão sendo tratadas na hora e do jeito certos, e isso consequentemente gera um desfecho pior para elas, além de mais custos para o Estado”, aponta o cardiologista Denizar Vianna, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e ex-secretário da pasta do Ministério da Saúde que avalia a incorporação de tecnologias.
+ Leia também: Câncer: notícias do front
Nesse círculo vicioso, conforme o tempo passa, a equação fica mais complicada, porque inúmeras vezes as novas terapias são mais eficazes, porém mais caras. Tanto que é comum ver usuários de convênios partindo para a rede pública (ou a Justiça) para obter medicamentos de última geração.
A questão do financiamento martela o SUS pelo menos desde os anos 1990. Só em 2013 uma lei passou a exigir um gasto mínimo da União, dos estados e dos municípios para ele. “Miramos nos modelos europeus, mas ficamos no meio do caminho, pois não temos recursos para isso”, analisa Massuda.
Longe de investir mais nesse departamento, o Brasil anda represando as verbas devido ao teto de gastos públicos estipulado em 2016 pelo governo Temer — só este ano a controversa medida tirou 25 bilhões de reais da área da saúde.
“O sistema está sendo desfinanciado, enquanto a população segue envelhecendo e demandando mais consultas, exames e remédios”, avalia o médico de família Aristóteles Cardona Júnior, da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares, coletivo de profissionais montado em defesa do SUS.

O tal subfinanciamento impacta, inclusive, a estratégia mais bem-sucedida e conhecida do SUS: o Programa Nacional de Imunizações (PNI).
“A compra das vacinas é uma política federal, mas os estados precisam de recursos para organizar as campanhas e investir na capacitação profissional. Com tantas urgências e pouco dinheiro, a vacinação contra doenças que hoje ocorrem em menor incidência fica comprometida”, explica a epidemiologista Carla Domingues, que durante anos coordenou o PNI.
Não por menos, vivemos uma queda dramática nas coberturas vacinais, um fruto apodrecido da desinformação, mas também do sucateamento de um projeto que é referência para o mundo. É algo a ser revisto com urgência, pois as doenças erradicadas do Brasil com a imunização podem voltar, como já aconteceu com o sarampo.
Além disso, vivemos uma era em que doenças virais novas ou reemergentes tendem a se espalhar com mais facilidade devido ao aquecimento global e à degradação do meio ambiente.
Está aí a experiência da Covid-19 que não nos deixa mentir. Ela escancara a importância não apenas da vacinação ampla e rápida, mas de termos uma rede pronta para atuar baseada em conhecimento técnico, e não em projetos ou caprichos de governos.
O SUS foi vital na pandemia: sem ele, a resposta teria sido ainda pior, mas é ponto pacífico que poderia ter sido melhor. Especialistas criticam a falta de articulação do Executivo federal com os estados e o mau uso das verbas — em tratamentos sem comprovação científica, por exemplo.
Coube a cada administração estadual fazer sua parte. “A gente percebe essa vulnerabilidade com as próprias vacinas, algo que parecia consolidado entre a população. Quando não há coordenação nacional e as lideranças ainda se colocam contra elas, temos dificuldade na adesão aos imunizantes”, comenta o médico Nésio Fernandes, secretário de Saúde do Espírito Santo e presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).
A entidade se destacou na luta contra o coronavírus, assumindo responsabilidades como a divulgação dos dados de infectados e vacinados e a viabilização do acesso aos imunizantes. Mas, sozinha, não pode resolver a desigualdade de recursos e a diferença nas taxas de mortalidade entre os estados.
Por outro lado, a pandemia reavivou nos brasileiros a noção de quão relevante é o SUS. “Temos que aproveitar que ele alcançou um alto grau de pertencimento na sociedade para garantir que, independentemente do próximo presidente, exista uma agenda da saúde voltada à universalização efetiva do cuidado com a população”, defende Fernandes.
Isso passa inclusive por deixar de ver a saúde pública e a privada como entes separados — ou o SUS para os pobres e os convênios para os ricos, como já se diz por aí.
Além do aspecto ético e legal, gravado na nossa Constituição, há uma razão coletiva para mudar essa visão. Quando uma pessoa adoece, há impactos não só no núcleo que convive com ela como até mesmo no restante da sociedade — entre eles, os econômicos.
O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (Proadi-SUS) mostra como as coisas podem ser em matéria de cooperação. Parte do atendimento na rede pública é garantida por instituições filantrópicas. Esses hospitais, isentos de impostos, são contratados pelo governo e respondem por boa parcela do atendimento gratuito, mas também podem oferecer serviços particulares.
Em 2009, seis dos maiores hospitais privados do país criaram o Proadi para melhorar a qualidade do serviço público. “O abatimento dos impostos é 100% revertido para isso, e os projetos são desenvolvidos em parceria com os gestores públicos”, explica Ana Paula Pinho, diretora de Responsabilidade Social do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, um dos integrantes do programa.
Na pandemia, a iniciativa impactou cerca de 3 mil serviços públicos, envolvendo 13 mil profissionais e oferecendo de teleconsultas a apoio a UTIs.

O Proadi-SUS tem outro projeto para resolver um problemão que vem na esteira da pandemia: a saúde mental do brasileiro. “É uma discussão marginalizada, mas quatro em cada dez pessoas têm sintomas de ansiedade ou depressão”, lamenta a enfermeira Ana Alice Freire de Sousa, coordenadora do programa Saúde Mental na Atenção Primária da Saúde. Ele capacita e organiza o trabalho dos profissionais que já estão nas UBS para acolher quem começou a perceber que não está bem emocionalmente.
“A ideia é propor intervenções ali mesmo, medicamentosas ou não, e ensinar táticas para lidar melhor com o estresse com os recursos que a comunidade tem em mãos”, detalha. O programa está em três estados (Goiás, Maranhão e Rondônia), mas poderia virar um modelo replicado nacionalmente.
+ Leia também: Injustiça psíquica: o SUS está pronto para os avanços da psiquiatria?
Outro exemplo regional que merece destaque vem do Espírito Santo. Em 2019, o estado amargava uma crise na saúde pública. Estava na quinta pior colocação em acesso à atenção primária, o que fazia as pessoas recorrerem muito aos hospitais e chegarem lá já precisando de cuidados complexos pelo agravamento do quadro.
Ora, estima-se que 80% das queixas de saúde seriam resolvidas na atenção primária. Desde que ela funcione! O governo do Espírito Santo começou a fortalecer essa rede e, dois anos depois, ocupa a quinta melhor posição no ranking nacional.
“Criamos um centro e um programa de formação em saúde da família que leva os profissionais aos postos de saúde para aprenderem direto nas UBS”, relata Fabiano Ribeiro, diretor do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação (Icepi). A medida reduziu desigualdades no acesso em cidades do interior.
O estado também mudou o modelo de remuneração dos hospitais filantrópicos, alvo de algumas críticas, para que recebam os honorários baseados em desempenho, e não em número de atendimentos.
E criou um sistema de gestão e regulação em que o clínico geral ou o médico da família não dão ao paciente apenas um papel de encaminhamento para o especialista, mas ambos conversam e tomam decisões em conjunto. Assim, ganham tempo e elegem melhor a fila de prioridades. Algumas já caíram pela metade, incluindo a de internações.
Soluções como essas prometem ampliar e aperfeiçoar o trabalho do SUS. Mas ainda são pautadas por iniciativas locais. “Não temos um ambiente institucional que estimula a inovação ou o desenvolvimento tecnológico”, lamenta o economista Carlos Gadelha, coordenador do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz.
O especialista dedica sua produção acadêmica ao estudo e à estruturação do Complexo Econômico-Industrial da Saúde, uma rede nacional de desenvolvimento científico e produção de insumos (de luvas descartáveis aos isótopos necessários para fazer radioterapia).
Hoje, esse parque industrial está muito aquém do que o país precisa. Fabricamos só remédios e vacinas cuja fórmula copiamos de fora e temos de importar a maioria dos itens prescritos. É mais barato no curto prazo, mas custa caro quando chega uma pandemia que cria uma corrida por insumos entre as nações, sobretudo as mais abastadas.
“Precisamos sair do triste binômio entre fortalecer a economia ou a saúde, pois uma depende da outra”, sentencia Gadelha.
BUSCA DE MEDICAMENTOS

Consulte remédios com os melhores preços
Além disso, há quem defenda que o maior investimento no SUS e em um complexo industrial vinculado a ele desoneraria futuramente os cofres públicos e o bolso dos cidadãos e ainda renderia nada menos que 25 milhões de empregos.
A revolução tecnológica, que já está em curso na medicina, é outro meio para aprimorar esse sistema, que não se digitalizou totalmente. Na corrida eleitoral, os candidatos à Presidência abordam saídas para esses e outros dilemas da saúde, mas a questão do financiamento continua nebulosa. Uma coisa é certa: dificilmente o apelo e a importância do tema irão arrefecer após o fim da pandemia.
Fortalecer o SUS é, assim, assegurar uma conquista histórica e uma forma de ajudar a recuperar a economia e o próprio bem-estar da população. Primeiro porque os problemas da saúde, cabe frisar, são direta ou indiretamente coletivos. Segundo porque a lógica da atenção primária opera com a ideia de se cuidar de maneira preventiva, e não só procurar o médico quando estamos doentes.
“Não se trata apenas da ausência de doenças ou de oferecer remédios e hospitais. O SUS deve garantir qualidade de vida a todos os cidadãos”, resume Gadelha. O desafio não é fácil, mas precisa ser encarado para dar orgulho, orientação e proteção ao brasileiro.

Todos somos beneficiados (mesmo)
Engana-se quem pensa que não desfruta do SUS. Além dos serviços diretamente prestados, ele mantém entidades como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Veja alguns exemplos de seu impacto no cotidiano dos brasileiros:
- Vacinação
O SUS fornece 15 às crianças, nove aos adolescentes e cinco a adultos e idosos. O Programa Nacional de Imunizações é referência mundial. - Transplantes
Ele financia 95% dos transplantes de órgãos no país e é responsável por toda a gestão desses procedimentos no Brasil — da fila ao transporte do órgão. - Emergências
As ambulâncias do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)atendem qualquer pessoa, inclusive quem tem convênio. - Pesquisa
As principais instituições de pesquisa são sustentadas com recursos públicos. Elas estudam, entre outras coisas, novas vacinas e tratamentos. - Campanhas
Frente a um problema como a Covid e a dengue, é o SUS que promove ações preventivas e educativas que abrangem a sociedade.
A desigualdade no SUS

A saúde em outros países
O SUS se inspirou em experiências internacionais de sucesso. Veja exemplos positivos e negativos de como o setor é tocado em outras terras.
- Canadá: oferece atendimento gratuito numa lógica similar à nossa, porém com um sistema para cada província. Também investe em atenção primária.
- Reino Unido: é um dos que mais investem em saúde pública no mundo e foi modelo para a elaboração do SUS. Lá isso é, de fato, prioridade máxima.
- Estados Unidos: não possuem um sistema universal e grande parte da população não consegue pagar pelo atendimento. Atualmente em crise.
- Cuba: outra inspiração brasileira. Apesar de não ser um país rico, Cuba destina boa parte de seus recursos à saúde, que tem bons indicadores.
O SUS em números



*A venda de produtos por meio deste link pode render algum tipo de remuneração à Editora Abril





 Chá de amora: conheça os benefícios e como preparar
Chá de amora: conheça os benefícios e como preparar Sachê para gatos: entenda por que é tão importante oferecer
Sachê para gatos: entenda por que é tão importante oferecer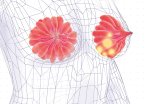 Câncer de mama: plataforma inteligente detecta e perfila a doença
Câncer de mama: plataforma inteligente detecta e perfila a doença Câncer de próstata: menos preconceito, mais cuidado
Câncer de próstata: menos preconceito, mais cuidado Apoio é quesito fundamental na jornada de pacientes com câncer de mama
Apoio é quesito fundamental na jornada de pacientes com câncer de mama