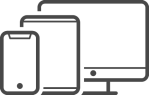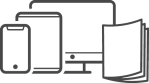Por Bruna Sanches (diagnosticada com vitiligo)*
A vida é estranha mesmo. Há doze anos, minha pele tinha uma cor única e uniforme, aquela com a qual nasci. Envolvia um corpo alto e magro, com mãos delicadas e um rosto marcante. Cabelos longos e negros acompanhavam. Ainda assim, se alguém perguntasse “Bruna, você se acha bonita?”, minha resposta seria um sonoro “não”. Aos 18 anos, odiava o nariz largo, as pernas finas, o cabelo ondulado e, principalmente, os seios pequenos.
Foi com essa idade que tudo começou a mudar. Numa segunda-feira qualquer, saí do banho e me posicionei diante do espelho como fazia todas as manhãs. Estava com o pincel e a base prontos para iniciar a maquiagem. Mas, assim que passei a mão no vidro para desembaçá-lo, dei de cara com ela: a primeira mancha branca do meu vitiligo, instalada no canto direito da boca.
Leia também: Você sabe o que são linhas de Blaschko?
Saí correndo do banheiro e fui mostrar a mancha para minha mãe, que disse: “Não deve ser nada, filha”. Foi uma tentativa de me acalmar, mas a verdade é que, na época, estávamos todas um pouco nervosas. Eu trabalhava como atendente em uma farmácia, minha irmã mais velha havia acabado de se formar e, minha mãe, nosso pilar, estava no processo de fechar sua empresa. As contas em casa começavam a apertar.
Marquei uma consulta de urgência com um dermatologista e, na mesma semana, passei por um exame clínico minucioso. Depois de me olhar com atenção, sem demonstrar dúvida, o médico disse: “Você tem vitiligo”. Assim, na lata. Não era possível. Eu não havia feito testes de sangue nem entrado em nenhuma máquina high-tech! Aquilo soou como uma facada. Chorei por dias. Semanas. Meses. Nada parecia pior do que ter vi-ti-li-go. Comecei a pesquisar sobre a doença e descobri que só 1% da população mundial a tem. Por que comigo?
Aos poucos, as manchas foram se espalhando e, nos primeiros anos depois do diagnóstico, já tinha marcas na boca, nas mãos, nos joelhos, nos pés e na barriga. Consultei um monte de médicos, passei pomadas, encomendei um remédio cubano, tomei comprimidos e me submeti ao laser (que rendeu dolorosas queimaduras e bolhas). E nada disso resolveu o meu problema.
Com os tratamentos também vieram as privações: proibido tomar sol, cuidado para não machucar a pele, ter de evitar roupas apertadas, nada de química nos cabelos e muito menos tatuagens. E, apesar de me sentir como uma cobaia em alguns casos, também estava proibida de me estressar. “A melhor forma de fazer isso na loucura de São Paulo é com tarja preta”, ouvi de um médico, o primeiro de muitos a me sugerir o uso de antidepressivos.
Enquanto isso, eu vivia meus 20 anos. Passei de recepcionista a designer na editora em que sonhava trabalhar e comemorei o avanço. Também chorei muito quando o primeiro namoro sério acabou de forma catastrófica – fui trocada por outra e informada da novidade no velório do meu avô. No abalo dessa perda dupla, algumas manchinhas aproveitaram para me visitar…
A vida ia avançando e o vitiligo também. A mancha da boca ganhou o nome de Raquel (como a irmã má da Ruth, da famosa novela global), pois era minha inimiga íntima. Como todas as outras, ela me deixava furiosa e frustrada. Até que, no final de 2012, um comentário honesto fez a primeira rachadura no meu ódio.
Leia também: O que a queda de cabelo pode dizer sobre sua saúde
Eu havia saído para tomar um suco com um moreno que, como eu, gostava de fotografar shows de rock. Comentei sobre o vitiligo, que ele já tinha visto, e então ouvi: “Me desculpa, mas não vejo manchas. São desenhos, e eles são só seus! Daria para passar horas olhando para eles, como nuvens!”. Aquilo foi um chacoalhão.
Pouco tempo depois, uma amiga pediu para fotografar minha mão apoiada numa jabuticabeira linda, “pintada” como eu. Era o que faltava para um mundo novo se abrir. Eu, que sempre amei fotografia, acabei encontrando um tema novo para explorar. Passei a retratar meu vitiligo sob vários ângulos, combinando-o com as formas que encontrava por aí. Na natureza, tenho vários colegas desenhados. Aqui, na cidade, os manequins de loja não me deixam sozinha!

Claro, não foi da noite para o dia que passei a aceitar a doença de forma tranquila. Apesar de ver beleza nas fotos, continuei tentando uma cura definitiva e, no final de 2015, marquei uma cirurgia de enxerto de pele. O procedimento é radical como parece: a médica tira um pedaço de pele “bom” e o transplanta para a área afetada. Entre a biópsia e a operação, foi necessária uma semana de espera. Enquanto aguardava, olhava para minha mão tentando imaginar como seria a cicatriz. Conversei com meu então namorado e vi que ele estava triste por me ver preocupada com algo que, aos seus olhos, era lindo e fazia parte de quem eu era.
Foi aí que comecei a sentir pena das minhas costas que, mesmo inocentes, seriam amplamente cortadas e costuradas – ali estava a “pele boa”. E ainda havia o risco de o procedimento desencadear novas crises. No fim das contas, a única certeza que tinha é que iria doer.
Faltando dois dias para a cirurgia, telefonei para meu pai, confusa. Já não sabia por que estava fazendo aquilo ou se valia o risco. Conversamos e, ao desligar, tinha uma decisão tomada. Cancelei tudo. Escolhi uma foto das minhas mãos e postei no Facebook dizendo que não iria mais me machucar. O apoio foi massivo e bonito.
Depois disso, decidi criar o blog Minha Segunda Pele e dividir minha experiência com o vitiligo. Abrir o coração e reviver cada história tem feito eu me sentir mais bonita. Pode parecer estranho, mas me sinto grata à vida por ter me dado essa doença. Deixei entrar o olhar doce de algumas pessoas e me contagiei. É libertador quando a aceitação vem de dentro, e eu finalmente me aceitei. O preconceito não me afeta mais, porque o venci dentro de mim. Isso me fez mais forte, mais segura e mais bonita.
*Bruna Sanches tem 29 anos, é editora de arte da revista Mundo Estranho, da Editora Abril, e autora do blog Minha Segunda Pele






 Chá de amora: conheça os benefícios e como preparar
Chá de amora: conheça os benefícios e como preparar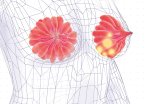 Câncer de mama: plataforma inteligente detecta e perfila a doença
Câncer de mama: plataforma inteligente detecta e perfila a doença Toranja: fruta combate os radicais livres. Conheça seus benefícios
Toranja: fruta combate os radicais livres. Conheça seus benefícios H. pylori: infecção bacteriana de Nattan é a mais comum do planeta
H. pylori: infecção bacteriana de Nattan é a mais comum do planeta Semaglutida: estudo mostra efeito em casos avançados de gordura no fígado
Semaglutida: estudo mostra efeito em casos avançados de gordura no fígado