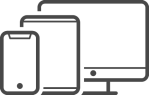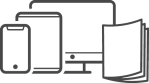No final de agosto, a Organização Mundial da Saúde (OMS) realizou na Índia sua Primeira Cúpula Global de Medicina Tradicional.
O encontro, que reuniu ministros da saúde do mundo, incluindo a brasileira Nísia Trindade Lima, discutiu a implementação de práticas integrativas e complementares aos sistemas de saúde do mundo.
É uma pauta que desperta polêmicas.
Por um lado, terapias comprovadamente ineficazes ou não estudadas o suficiente se aproveitam do rótulo de alternativas ou tradicionais para receberem aprovação de conselhos de medicina e serem incluídas como políticas de saúde pública.
É o caso, por exemplo, da homeopatia, reconhecida como especialidade médica e inclusa na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) do Sistema Único de Saúde.
Existe também a crítica de que estas práticas sejam oferecidas para compensar a carência de assistência na rede pública.
Por outro, há uma demanda popular crescente (e antiga) por um olhar holístico e humanizado da medicina, e pela valorização de conhecimentos de povos originários, indígenas e afrodescendentes nos cuidados de saúde. E algumas práticas tradicionais já ganharam certo respaldo científico, como a acupuntura.
Sobre o assunto, VEJA SAÚDE conversou com o médico Ricardo Ghelman, professor do Departamento de Medicina em Atenção Primária da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), presidente do Núcleo de Medicina Integrativa da Criança e do Adolescente da Sociedade de Pediatria de São Paulo e presidente e fundador do Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa (Cabsin).
Ghelman é o único brasileiro no grupo de 11 especialistas convidados pela OMS para organizar a cúpula, e é coordenador dos Mapas de Evidências sobre a eficácia clínica das Medicinas Tradicionais, sendo elaborado pela Organização Panamericana da Saúde (Opas).
VEJA SAÚDE: Qual era o intuito desse encontro promovido pela OMS e quais foram os principais destaques?
Ricardo Ghelman: Foi um encontro muito importante, que vem responder a uma crise global, tanto ambiental quanto na área da saúde.
A partir desse evento, criamos um centro colaborativo global pra implementar de forma sustentável programas de medicina complementar, tradicional e integrativa (MCTI), em diálogo direto com o conceito de saúde planetária.
Eu trabalho na área de evidências, e tivemos muitas discussões sobre esse ponto em específico.
Você mencionou a saúde planetária e uma crise ambiental e de saúde. Qual é o papel das MCTIs nesse cenário?
Os conhecimentos indígena e tradicional, de países como China e Índia, são utilizados por bilhões de pessoas, às vezes como a única opção de cuidado ou a opção favorita.
No entanto, há até 20 anos eles eram separados ou marginais aos sistemas de saúde pública do mundo. E existe um entendimento de que o nosso modelo de saúde não responde a uma série de questões muito presentes hoje.
Tivemos um avanço grande na redução de mortalidade, mas há um aumento crescente de males como as doenças cardiovasculares e o câncer, que são as duas maiores causas de morte no mundo.
E também consideramos que esse conhecimento tradicional atua em um modelo de sustentabilidade e harmonia o ambiente natural, com as florestas e com um período pré-urbanização do mundo.
Estamos dentro dessa nova era, que é chamada de Antropoceno, tamanhas as mudanças ambientais promovidas pelo homem, que tem nos levado a um cenário de desastre. De tal forma que o tema saúde planetária [saúde humana, animal e ambiental integradas] está sendo cada vez mais discutido e essas práticas fazem parte disso.
Só é importante ressaltar que medicina tradicional, complementar e integrativa são três termos completamente diferentes.
Tradicional indica os saberes ancestrais de uma região. Complementar seriam sistemas médicos que não são o mainstream, como a Ayurveda e a medicina chinesa. Integrativo tem significados diferentes, mas podemos definir como um modelo de cuidados centrado na pessoa, e não na doença.
E o conhecimento da medicina “convencional” não está separado do modelo integrativo. Eu receito antibióticos, corticoides e cirurgias quando necessário.
Porém, temos problemas hoje, como o uso excessivo de antibióticos que leva à resistência bacteriana, e de corticoides, que são fundamentais em situações agudas, mas não deveriam ser usados em longo prazo e como principal alternativa em doenças autoimunes.
+ Leia também: Tratamentos alternativos: fique atento aos riscos
E existe algum critério técnico ou regulamentação para que uma prática seja considerada integrativa ou complementar? Qual o papel das evidências científicas na regulação sobre essas terapias, visto que muitas são criticadas pela falta de evidências?
A incorporação baseada em evidências seria o caminho ideal. O Brasil tem uma política em vigor sobre o assunto desde 2006 que inclui diversas práticas [a PNPIC].
Não sei quais foram todos os critérios de escolha do Ministério da Saúde, mas sei que um deles foi reconhecimento das práticas que já estavam sendo utilizadas. O PMAQ [Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade, do SUS] avaliou a implementação e os mais usados são os que reúnem mais evidência favorável, como acupuntura e práticas corporais.
Em 2019, a pedido do então ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta, começamos (com o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, o Cabsin) a sistematizar as evidências de todas as práticas, em parceria com a Opas, na biblioteca virtual do Bireme. Até agora, temos 26 mapas e 16 práticas catalogadas. Algumas têm um elevado nível de pesquisas, outras menos.
Essa é uma questão fundamental, porque a posição do Ministério da Saúde e a dos gestores de saúde deve ser de fazer a implementação informada por evidências. E há uma lacuna muito grande entre a pesquisa e a aplicação prática dessas terapias.
Todos nós somos contra medicinas alternativas sem comprovação científica. Esse não é o debate. A pergunta é: existem evidências suficientes ou não? Atualmente, estamos discutindo como focalizar em pesquisas para responder a essas perguntas e como integrar os modelos.
Você mencionou a questão do cuidado centrado no paciente e falou também do uso irracional de medicamentos. Mas isso não deveria ser uma discussão de toda a medicina, e não de um departamento separado?
Com certeza. Sabe como os Estados Unidos definem medicina integrativa? Medicina do futuro. Porque o foco em individualização do paciente de medicinas complementares é a mesma da personalização que está sendo buscada hoje na oncologia, por exemplo.
O diálogo de ponta está na integração dessas duas visões. Não temos mais que falar de medicina complementar ou integrativa, mas simplesmente falar de medicina. E o que não tiver evidência, o que não funcionar, vai ser descartado naturalmente.
A sua posição e a de entidades oficiais é de que práticas complementares devem ser encaradas mesmo como complementares. Entretanto, estudos mostram que pacientes que aderem à terapias alternativas tendem a abandonar seus tratamentos convencionais no caso de um câncer, por exemplo. Isso não te preocupa?
Esse é justamente o modelo ao qual nos opomos. O ideal é ter o melhor dos dois mundos. Eu trabalho com oncologia integrativa e já coordenei um ambulatório na Associação Brasileira de Medicina Antroposófica. Muitos pacientes chegavam lá querendo largar a quimioterapia.
Sabemos que há uma fase do diagnóstico crítico em que o paciente passa por um estágio de negação e busca alternativas. E conversávamos sobre isso com todos e aumentávamos a adesão dos pacientes ao tratamento. Reforçando: a proposta nunca é substituir, e sim integrar.





 Chá de amora: conheça os benefícios e como preparar
Chá de amora: conheça os benefícios e como preparar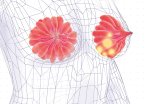 Câncer de mama: plataforma inteligente detecta e perfila a doença
Câncer de mama: plataforma inteligente detecta e perfila a doença Sachê para gatos: entenda por que é tão importante oferecer
Sachê para gatos: entenda por que é tão importante oferecer Heroína: consequências do vício e reabilitação
Heroína: consequências do vício e reabilitação Concentrado, isolado, hidrolisado: qual é o melhor whey protein?
Concentrado, isolado, hidrolisado: qual é o melhor whey protein?