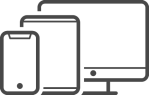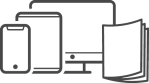Tive o diagnóstico de esclerose múltipla (EM) aos 14 anos de idade, em 2000. Naquele tempo, a informação sobre o tema era escassa – e eu posso dizer que, de certa forma, fui vítima da desinformação e da falta de conhecimento, inclusive de profissionais de saúde.
Jamais esquecerei como recebi o diagnóstico. Eu estava no consultório e o médico, do outro lado da mesa, passou para a minha mãe um papel com duas palavras escritas: esclerose múltipla.
Eu não sabia o que elas queriam dizer, mas entendi que, se ele não tinha coragem de falar em voz alta, é porque deveria ser algo muito ruim.
Minha mãe, profissional de saúde, encheu os olhos d’água na hora. A informação que o médico conseguiu me passar foi de que eu tinha que seguir minha vida e fazer fisioterapia pra não perder os movimentos (oi?). E, quando começasse a sentir algo estranho no corpo, eu deveria correr para o consultório.
Segundo ele, o que tinha de tratamento para mim eram altas doses de corticoide por cinco dias – a chamada pulsoterapia. Eu teria que fazer exames continuamente e minha doença não tinha cura, era para a vida toda.
Fui para casa com tudo isso na cabeça, e pensando se a coceira que sentia no rosto era o “algo estranho” que o médico mencionara. Como eu poderia saber?
Naquele dia, esperei até dar meia-noite (internet discada, lembra?) e busquei em diferentes sites o que era a minha doença. Descobri um total de zero páginas em português sobre o assunto.
Ampliei a investigação para o inglês e bingo: doença degenerativa, progressiva, sem cura. Prognóstico de morte em dez anos. Eu, portanto, viveria até os 24 anos.
+ Leia também: O que a esclerose múltipla ensina sobre diferentes doenças sem cura
Acordei no dia seguinte com a resolução de não ir mais para a escola. Não fazia sentido estudar se eu teria apenas dez anos de vida – os últimos cinco, provavelmente, em cadeira de rodas, ou acamada. Minha sorte foi ter uma mãe que não me deixou desistir da vida.
Então eu fui vivendo e lidando apenas com o tratamento de crises (a esclerose múltipla costuma se manifestar em surtos com sintomas variados, que depois vão embora, mas podem deixar consequências).
Na época, já existiam terapias de controle, que reduzem o risco das crises, mas eles não eram autorizados para menores de 18 anos.
Então a doença foi avançando de forma contínua e regular. O que fez meus pais buscarem um especialista em Porto Alegre – eu morava em Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul. Mas esse especialista não acreditou no relato de uma adolescente.
Ao me avaliar, ele disse com todas as letras que minha perda de movimentos era criação da minha cabeça.
Segundo esse médico, isso teria ocorrido porque tenho uma irmã com deficiência intelectual, e alguma parte do meu cérebro estaria achando que ela vinha roubando toda a atenção dos meus pais.
O pior é que eu saí de lá acreditando nesse especialista. Resultado: não avisei ninguém que meus sintomas estavam piorando.
Só tirei esse absurdo da cabeça quando precisei ser internada, já sem movimento das pernas e dos braços e enxergando apenas vultos.
A informação errada e a conduta profissional errada de diferentes médicos me fez ter uma das crises mais graves de esclerose múltipla. Pior que isso, me trouxe um segundo diagnóstico: o da depressão.
Minha sorte foi ter uma família acolhedora, que nunca deixou de acreditar em mim e em tudo que eu poderia realizar, com ou sem EM, andando ou não, enxergando ou não. Uma família anticapacitista raiz.
Reaprendi a andar. Reaprendi a escrever com as mãos trêmulas. Voltei a enxergar – um pouco mal, mas voltei. Reaprendi a olhar a vida com olhos de quem tem certeza absoluta que não tem o controle de nada.
Aprendi que independência e autonomia são coisas diferentes. E aprendi a não aceitar qualquer informação como verdade só porque vem de um profissional, ou de um site da internet.
Aprendi a questionar até estar satisfeita com a resposta. Até ter o meu posicionamento. E também fui, felizmente, beneficiada com o avanço do acesso a bons tratamentos para esclerose múltipla.
Foi assim que entendi que compartilhar minha jornada e me unir a outras pessoas com histórias de diagnósticos seria importante. Não só do ponto de vista emocional, mas para um posicionamento ético-político.
Eu não queria que ninguém mais passasse pelo que eu passei, e que as pessoas entendessem que existem escolhas, tratamentos e a possibilidade de seguir vivendo, sonhando e olhando para o futuro com a EM – e não apesar dela.
Por isso que, em 2009, eu comecei um blog, que me levou à criação da associação Amigos Múltiplos pela Esclerose (AME), que me levou a um doutorado sobre narrativas de pessoas com condição crônica de doença, que me levou…
Foi a partir das experiências de outras pessoas que eu entendi que ter uma doença não é sinônimo de não ter saúde. Eu posso ser uma pessoa absolutamente saudável tendo o diagnóstico de uma doença crônica.
Nietzsche escreveu, em Ecce Homo (clique para comprar**) (quando ele se encontrava doente), que “não existe uma saúde em si, e todas as tentativas de definir tal coisa fracassaram miseravelmente. Depende de seu objetivo, do seu horizonte, de suas forças, de seus impulsos, seus erros, e, sobretudo, dos ideais e fantasias de sua alma, determinar o que deve significar saúde também para seu corpo. Assim, há inúmeras saúdes do corpo”. Levo essas palavras comigo todos os dias.
A doença é aquilo que a gente conta sobre ela. A saúde também. E a informação correta que propagamos tem uma força muito grande na jornada de quem tem um diagnóstico.
+ Leia também: Fake news colocam a saúde em risco – saiba como se blindar
Construir narrativas positivas sobre nossas doenças não faz com que seja bom tê-las. Há dor e sofrimento, claro. Mas esse olhar torna potente aquilo que vivemos.
*Bruna Rocha tem doutorado e pós-doutorado em Educação e mestrado em Comunicação Social. É vice presidenta da AME (Amigos Múltiplos pela Esclerose) e da CDD (Crônicos do Dia a Dia). Mãe, cuidadora, mulher e (im)paciente de esclerose múltipla desde 2000
**Vendas por meio desse link podem render algum tipo de remuneração à Editora Abril

 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO




 Chá de amora: conheça os benefícios e como preparar
Chá de amora: conheça os benefícios e como preparar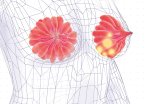 Câncer de mama: plataforma inteligente detecta e perfila a doença
Câncer de mama: plataforma inteligente detecta e perfila a doença Toranja: fruta combate os radicais livres. Conheça seus benefícios
Toranja: fruta combate os radicais livres. Conheça seus benefícios Semaglutida: estudo mostra efeito em casos avançados de gordura no fígado
Semaglutida: estudo mostra efeito em casos avançados de gordura no fígado H. pylori: infecção bacteriana de Nattan é a mais comum do planeta
H. pylori: infecção bacteriana de Nattan é a mais comum do planeta