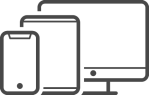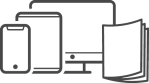Há pouco mais de 30 anos, a sociedade brasileira ainda vivia uma ditadura. Especificamente na área da saúde mental, havia uma sequência de violações de direitos, o confinamento, o abandono, o cerceamento da liberdade e o tratamento cruel típico dos manicômios.
Esse cenário sombrio criou um conflito ético para os profissionais da saúde mental. Atrás da pretensa ideia terapêutica, a internação manicomial escondia dos olhares da sociedade a figura sofrida, diferente e excluída da pessoa em sofrimento mental.
Eis que, em um processo de grandes transformações de diversos setores reprimidos pela ditadura, veio a busca para reconstruir o Estado democrático de direito. Num ato de resistência e enfrentamento à lógica manicomial excludente, trabalhadores de saúde mental, familiares, usuários e defensores dos direitos humanos aliaram saber técnico, postura ética e posição política para produzir conhecimento e construir outros modos de cuidar e acolher o sofrimento mental em espaços de convívio social nos serviços de saúde de base comunitária.
Em 30 anos, leis para promover a reforma psiquiátrica foram promulgadas por municípios, estados e também pela União. Essas normas determinaram a criação de serviços substitutivos aos hospitais psiquiátricos por meio de uma Rede de Atenção Psicossocial (Raps), tornando o cuidado em liberdade um direito constitucional, inalienável, assegurado pela legislação vigente.
Mas, no dia 14 de dezembro de 2017, voltamos algumas décadas no tempo. O Brasil foi surpreendido pela aprovação de nova política de saúde mental pela Comissão Intergestores Tripartite (CIT), instância composta pelas três esferas de gestão da saúde no país – União, estados e municípios –, sem a participação da sociedade civil. Na sessão, o presidente do Conselho Nacional de Saúde (CNS) sequer teve garantido seu direito à manifestação, ferindo a prerrogativa do controle social.
A mudança da política imposta pelo Ministério da Saúde resultará em impactos negativos aos cuidados em saúde mental dos usuários. Com o retorno de manicômios e o fortalecimento das comunida
des terapêuticas – históricos espaços de segregação e exclusão –, o estigma da doença mental voltará a assombrar os usuários.
Além disso, os serviços comunitários, como os Centros de Atenção Psicossocial (Caps), os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs) e outros espaços da Raps tenderão a se enfraquecer, coagidos pela pressão para internações psiquiátricas. Exemplo disso é o valor dos recursos financeiros destinados aos espaços fechados: 140 milhões de reais para hospitais psiquiátricos e outros 120 milhões para comunidades terapêuticas.
E os serviços extra-hospitalares? Nenhum vintém, contrariando os 75% do orçamento que deveriam ser destinados aos serviços abertos, como previsto na política de saúde mental anterior, aprovada com a participação de usuários do SUS nos Conselhos de Saúde.
Cabe ressaltar que a nova política ainda fortalece a mercantilização. A saúde deixa de ser um direito de todos e dever do Estado, conforme previsto na Constituição Federal de 1988, e passa a ser tratada como um negócio lucrativo para os proprietários de hospitais psiquiátricos, de clínicas privadas, de vendedores de vagas ao poder público e para as comunidades terapêuticas, em sua maioria de base religiosa, que não contam sequer com equipes de saúde. A indústria farmacêutica, com forte influência nos hospitais, também sairá beneficiária da destruição da Raps.
* Ivarlete Guimarães de França é psicóloga, especialista em saúde e trabalho, integrante do Fórum Gaúcho de Saúde Mental (FGSM) e da Rede Internúcleos da Luta Antimanicomial (Renila) A coluna foi escrita a pedido do Conselho Federal de Psicologia.


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO




 Chá de amora: conheça os benefícios e como preparar
Chá de amora: conheça os benefícios e como preparar Sachê para gatos: entenda por que é tão importante oferecer
Sachê para gatos: entenda por que é tão importante oferecer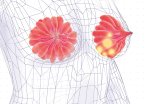 Câncer de mama: plataforma inteligente detecta e perfila a doença
Câncer de mama: plataforma inteligente detecta e perfila a doença Câncer de próstata: menos preconceito, mais cuidado
Câncer de próstata: menos preconceito, mais cuidado Apoio é quesito fundamental na jornada de pacientes com câncer de mama
Apoio é quesito fundamental na jornada de pacientes com câncer de mama