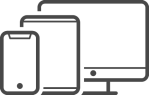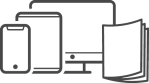“É numa casa que a gente se sente só. Não do lado de fora, mas dentro.” A frase da escritora francesa Marguerite Duras sintetiza o sentimento que muitos de nós experimentamos com a Covid-19. A felicidade que projetamos na virada do ano desmoronou feito um castelo de areia. As relações com amigos, familiares e parceiros migraram para o mundo digital. O convívio com aqueles com quem dividimos o mesmo teto passou para regime full time. O amor ou o ódio aos governantes nos dividiram ainda mais.
E nossa relação com a morte, assunto que tentamos encobrir com o véu do silêncio, entrou na ordem do dia. Os mortos se contam aos milhares. Mesmo assim, continuamos a viver como se a morte fosse um destino inevitável apenas para o outro.
Há cerca de 100 anos o psicanalista Sigmund Freud escreveu uma série de ensaios sobre esses temas. Feliz ou infelizmente, grande parte do que ele diagnosticou em seu tempo continua válido. Não custa lembrar que, logo depois da Primeira Guerra Mundial, o planeta foi assolado pela gripe espanhola. Ainda nos primeiros meses da guerra, Freud afirmaria que nossa relação com a morte não era sincera.
Em tempos de paz, quando as notícias sobre os mortos chegam uma de cada vez, nos damos ao luxo de não pensar na morte como destino inevitável. Imaginamos que todos são mortais, menos “eu”. Não é assim que parece pensar o vizinho que se recusa a usar máscara no elevador?
Todos sabemos que vamos morrer. Mas esse saber é desligado de afetos, insuficiente para fixar crenças. O tratamento convencional e insincero que dispensamos à morte é posto à prova quando ela se conta aos milhares, como nas guerras e pandemias. Nesses casos, “a morte já não se deixa mais renegar; temos de acreditar nela”. E, no entanto, continuamos a não acreditar.
Pesquisas mostram que a aprovação do governo brasileiro, onde o número de casos de Covid-19 a cada milhão de habitantes é cinco ou seis vezes maior que a média global, vem crescendo. Como entender esse paradoxo? O próprio Freud nos dá pistas: sempre que tentamos pensar em nossa própria morte, nos vemos como espectadores, fora da cena. Para o inconsciente, somos imortais.
Mas por que uns acreditam na morte a ponto de entrar em intenso sofrimento, e outros não? As respostas a traumas são bastante individuais, mas há elementos de natureza social. Nesta época tão polarizada, parece que as pessoas não vivem no mesmo mundo, não compartilham as mesmas crenças — dinâmica já descrita por Freud em 1917. Quando uma massa se forma em torno de um líder, reforçamos identidades e crenças. Quanto mais nos identificamos com outros que pensam como nós, nos fechamos e nos espelhamos nesse grupo, ficando imunes à crítica. A massa não pensa. Basta olhar para a velocidade das fake news.
Essa identificação quase hipnótica segrega quem pensa diferente de nós: o amor ao líder e aos iguais é alimentado pelo ódio ao inimigo — fenômeno amplificado nas massas digitais. Tampouco aceitamos as privações às quais fomos submetidos na quarentena sem culpar alguém. Pois nossa relação com a cultura é ambígua: a mesma cultura que nos protege ameaça nossa felicidade.
Vivemos uma época em que não nos sentimos em casa, mesmo dentro de casa. Freud descreveu esse sentimento “infamiliar” de estranharmos o que nos é íntimo. E assim nossos conflitos se intensificam: a distância aumenta o amor, a proximidade aumenta o ódio. Sobreviver a estes tempos não é para qualquer um.
* Gilson Iannini é filósofo e psicanalista, professor da Universidade Federal de Ouro Preto (MG) e coordenador das Obras Incompletas de Sigmund Freud (Editora Autêntica), que contemplam livros como O Mal-Estar na Cultura e O Infamiliar


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO




 Chá de amora: conheça os benefícios e como preparar
Chá de amora: conheça os benefícios e como preparar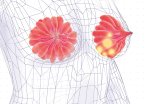 Câncer de mama: plataforma inteligente detecta e perfila a doença
Câncer de mama: plataforma inteligente detecta e perfila a doença H. pylori: infecção bacteriana de Nattan é a mais comum do planeta
H. pylori: infecção bacteriana de Nattan é a mais comum do planeta Probióticos ajudam a tratar síndrome do intestino irritável?
Probióticos ajudam a tratar síndrome do intestino irritável? Ozempic: remédios com semaglutida podem beneficiar articulações
Ozempic: remédios com semaglutida podem beneficiar articulações