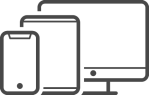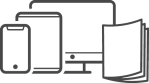A esclerose lateral amiotrófica, ou simplesmente ELA, não passava de uma ilustre desconhecida para a maior parte da população há alguns anos. Afinal, é uma doença rara, que atinge cerca de 12 mil pessoas no Brasil. Mas dois fatos recentes mudaram essa história: o desafio do balde de gelo, que incentivava as pessoas a gravarem um vídeo tomando um banho gelado e doar uma quantia para pesquisas científicas na área, e o filme sobre a vida do físico Stephen Hawking (1942-2018), um dos mais famosos portadores da condição no mundo.
Marcada por uma disfunção nos neurônios motores e lesões na medula espinhal que desembocam em perda de força, atrofia muscular, dores, cãibras, endurecimento de pernas e braços e dificuldades para engolir, falar ou mastigar, a ELA costuma dar as caras após os 50 anos. Infelizmente, a maioria dos pacientes não vive mais de uma década após o diagnóstico.
Para saber mais sobre o assunto, SAÚDE conversou com o neurologista Rickie Patani, pesquisador do Instituto Francis Crick e professor da Universidade College London, na Inglaterra. O cientista acaba de ser homenageado pelo Instituto Paulo Gontijo, centro brasileiro de referência na pesquisa e no atendimento da ELA. Patani está à frente da descoberta de biomarcadores da doença, um passo fundamental para se pensar em novas terapias no futuro. Confira a conversa na íntegra abaixo:
SAÚDE: Qual é o maior desafio no diagnóstico e no tratamento da esclerose lateral amiotrófica?
Rickie Patani: embora detectar a ELA em seus estágios iniciais seja bastante desafiador, uma vez que outras doenças têm sintomas bem parecidos, acredito que essa etapa seja relativamente fácil para um neurologista bem treinado e experiente. O diagnóstico é feito no próprio consultório, por meio da análise dos sintomas e das queixas do paciente, com o uso de exames de suporte.
Acredito que o maior desafio seja mesmo a falta de terapias 100% efetivas. A razão dessa ausência de opções está no fato de que ainda não conhecemos com precisão os mecanismos moleculares e celulares por trás da doença.
Como o conhecimento sobre a ELA evoluiu nos últimos anos?
Acredito que tivemos avanços em três áreas principais nos últimos 15 anos. Primeiro, a descoberta de proteínas-chave, que são os blocos de construção da célula. Observamos que elas estão desordenadas e não seguem o esperado dentro da célula.
Em segundo lugar, vimos que uma célula do cérebro com formato de estrela, conhecida como astrócito, tem um papel importante para a morte dos neurônios motores no processo de degeneração da ELA.
Terceiro, foi comprovado que há mais de 20 genes relacionados diretamente com a enfermidade. Essas descobertas foram cruciais para entender um pouco melhor todo o quadro.
Quais aspectos da ELA continuam cercados de mistérios?
A sequência de eventos que causam disfunção nos neurônios motores — das anormalidades iniciais à degeneração — não são compreendidos totalmente. Além disso, não temos certeza da contribuição de outros tipos de células nesse processo. Também precisamos esclarecer qual é o papel preciso do envelhecimento, que é de longe o maior fator de risco para o desenvolvimento da ELA.
Como o senhor vem abordando essas questões em suas pesquisas?
Em nosso laboratório, nós utilizamos células da pele dos próprios pacientes. Elas são convertidas em células-tronco e, num segundo processo, transformadas em neurônios motores. A partir disso, descobrimos problemas no código genético que levam ao desenvolvimento da ELA.
Nosso trabalho quer delinear esses mecanismos e a perda de comunicação no genoma. Temos um contato com uma companhia farmacêutica para tentar selecionar esses erros e agir sobre eles. Isso poderá, no futuro, prevenir a doença logo na sua origem, antes que ela evolua.
Além desse estudo, ainda transformamos aquelas células da pele nos astrócitos. Foi assim que descobrimos que eles contribuem para a morte dos neurônios motores na ELA. Muitos dos próprios astrócitos acabam morrendo e, desse modo, não dão suporte e uma pronta resposta à crise que atinge o sistema nervoso.
Pessoalmente, eu aposto que uma combinação de diferentes terapias baseadas nesses conhecimentos todos é que levará à cura dessa doença tão devastadora.
Como o desafio do balde de gelo, que movimentou a internet, contribuiu para financiar essas pesquisas?
O desafio do balde de gelo foi transformador para a pesquisa sobre o ELA. Desde 2014, mais de 100 milhões de dólares foram arrecadados. Dois terços desse valor serviram para financiar a ciência. Um quinto foi empregado diretamente para os pacientes.
O restante foi utilizado nas campanhas de conscientização para a população geral. O impacto real é difícil de quantificar, mas podemos dizer que esse movimento coletivo global contribuiu diretamente para a descoberta de novos genes que causam a doença, por exemplo.
Existem novas opções de tratamento em pesquisa que podem virar uma realidade nos próximos anos?
Eu tenho esperança sobre dois caminhos terapêuticos. O primeiro seria utilizar pequenas sequências sintéticas de DNA para consertar as falhas genéticas que dão origem ao problema nos neurônios motores. A segunda estratégia é mirar nos astrócitos, aquelas células com formato de estrela, para fazê-las atuar contra a ELA.
Eu sinto que precisamos aprender com a oncologia, em que múltiplos caminhos e opções de remédios são muitas vezes usados para combater um mesmo tipo de tumor.
Estamos perto de uma cura para a ELA?
Como mencionei, nós trabalhamos em conjunto com uma companhia farmacêutica, que está confiante na possibilidade de mirar e eliminar mensagens corrompidas vindas dos genes com defeito. Isso poderia prevenir que proteínas importantes sejam perdidas nesse processo. Estamos todos muito esperançosos e esperamos que essa abordagem ajude sim a modificar a progressão da doença.





 Sachê para gatos: entenda por que é tão importante oferecer
Sachê para gatos: entenda por que é tão importante oferecer Chá de amora: conheça os benefícios e como preparar
Chá de amora: conheça os benefícios e como preparar Câncer de próstata: menos preconceito, mais cuidado
Câncer de próstata: menos preconceito, mais cuidado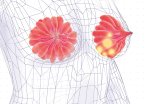 Câncer de mama: plataforma inteligente detecta e perfila a doença
Câncer de mama: plataforma inteligente detecta e perfila a doença Apoio é quesito fundamental na jornada de pacientes com câncer de mama
Apoio é quesito fundamental na jornada de pacientes com câncer de mama