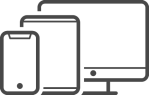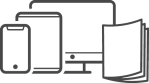“Na África, a causa das doenças não tem um ‘que’, mas um ‘quem'”
Em entrevista inspiradora, escritor moçambicano reflete sobre as fronteiras do raciocínio humano e nossa relação com o conhecimento

Mia Couto é um dos escritores da língua portuguesa mais celebrados da atualidade. Nascido na cidade de Beira, em Moçambique, seus livros já foram traduzidos para mais de dez línguas e fazem sucesso em duas dezenas de países. Além do trabalho com as letras, ele também estudou medicina — abandonou o curso no terceiro ano para se dedicar ao jornalismo — e é formado em biologia, onde ainda tem atuação profissional.
Vencedor do Prêmio Camões em 2013, a mais distinta honraria literária lusófona, Mia Couto está no Brasil para uma série eventos. Uma de suas aulas ocorreu ontem (15) em Porto Alegre, durante o Congresso Mundial de Cérebro, Comportamento e Emoções, que SAÚDE está acompanhando. Antes da palestra, o autor concedeu uma entrevista coletiva para os profissionais da imprensa, em que levantou questões filosóficas sobre a interface entre ciência e misticismo, nosso pensamento racional e a maneira como vemos o mundo. Confira as perguntas e as respostas abaixo
Na sua palestra, você vai falar da relação do moçambicano com a ciência. Como se dá isso?
Não é do moçambicano em si, até porque somos muitos e com culturas distintas. Mas vou tomar o exemplo de um caso, uma vivência que eu tive com um moçambicano de uma zona muito remota do país, para mostrar que há outros entendimentos do cérebro, da mente e da consciência.
Quero fazer uma espécie de convite para que a ciência tenha essa abertura e esteja disponível para escutar outras sabedorias. E perceber que, no fundo, ela é uma construção que precisa estar junto de outras para que possamos ver o mundo de uma maneira composta e plural. Eu percebi que, num momento como esse, não tenho competência se não for no sentido de contar experiências minhas, vivências que eu testemunhei e ilustram esse múltiplo olhar de quem somos.
Como é trafegar por esses dois mundos: ser biólogo e escritor, da ciência e da literatura? Como explicar isso para as pessoas?
Me causa uma certa estranheza essa pergunta, porque ela é constante. Como você compatibiliza ser biólogo e ser escritor? Mas pra mim nunca se colocou questão nenhuma. É como o escritor russo Tchekhov dizia quando questionavam ele, uma vez que também era médico. “É como se a amante e a esposa fossem a mesma pessoa”. Não há aqui uma separação.
Para mim, a biologia vale como uma proposta de narrativa. Uma narrativa que conta uma história, a história da vida, e me coloca numa relação de entidades que estão falando, tentando trocar linguagens comigo. Eu percebo melhor o mundo vivo que me rodeia. Eu sei falar com uma árvore, eu sei olhar para uma pedra de uma maneira que não era aquela que fazia antes de acabar o meu curso de medicina. Na medicina, não me formei. Para o bem dela, aliás. Mas terminei biologia e a faço como uma aprendizagem permanente, para perceber que há esse parentesco profundo entre entidades que parecem tão dessemelhantes.
Como foi a vivência que você testemunhou nessa região remota de Moçambique? Como isso se conecta com os outros saberes?
Trata-se de um episódio. É uma coisa permanente no meu trabalho. Eu venho de uma cultura urbana, mestiçada de africana com europeia. E, quando viajo, encontro outros mundos e outros olhares que são importantes para eu perceber que preciso estar em diálogo, preciso estar disponível. Vou contar um dos casos que ilustra como há posições diferentes sobre quem somos. Há muitos anos, eu estava com o escritor zimbabuano Chenjerai Hove e ele ia visitar sua avó, que vivia numa montanha remota. Esse fato se passou há 30 anos. A senhora não conhecia o que era um radio de pilha. E Chenjerai ia dar um para ela. Eu não fui com ele até lá, mas ele me perguntou: “Como achas que ela vai reagir?”.
Pensamos que ia ficar cheia de medo, fugir, achar que era coisa de feitiçaria. Quando voltou, meu colega disse que ligou o aparelho e estava passando o noticiário na língua dela. A avó percebia o que se dizia. Quando acabou o noticiário, ela perguntou ao neto: “Esse homem, a falar dentro desta caixa, dizia palavras que vinham da cabeça dele ou mandaram ele falar?”. Essa coisa é surpreendente. Porque ela percebeu que havia um compasso, um silêncio, uma pausa que nunca ouvira. A senhora concluiu que ou o locutor mentia ou falava pela voz alheia. Esses tipos de encontros são importantes porque colocam em foco essa questão de valorizar o outro. De a gente pensar que vamos encontrar coisa exótica e engraçada. Não é engraçado. E ainda sugere que há uma outra percepção de mundo que nos faz falta.
Você tem ideia como essa sabedoria africana entende a demência?
Não conheço muito, mas a percepção geral é que a doença não tem um “que” como causa, mas um “quem”. Há um sujeito. E, em geral, a enfermidade significa que há uma lacuna numa harmonia que se perdeu com a família, os amigos, a aldeia, o mundo. É uma visão cósmica em que a saúde deriva desse equilíbrio, dessa conjugação, e a doença é um sinal, um símbolo. O terapeuta africano não se propõe curá-la como se fosse uma coisa, mas ele coloca essa pessoa à disposição de forças capazes de recompor essa harmonia.
Cada vez mais se fala da importância da leitura para evitar problemas cognitivos, principalmente em idades mais avançadas. Ao mesmo tempo, a gente vê no Brasil um nível de leitura baixíssimo. Como fazer as pessoas ficarem mais próximas desse hábito?
Da parte que me cabe, eu acho que os escritores têm que dar uma resposta para a relação com o audiovisual, que é mais sedutor para as pessoas. Necessitamos de uma escrita que se atualiza, que se moderniza com o mundo de hoje. Acho que esse é um primeiro desafio. Mas depois, é preciso de todo o resto. É preciso de uma escola diferente. É preciso de uma ideia que ler não é só o livro. É preciso saber ler o mundo, ter uma relação com os outros. Quando eu falo com você, eu estou te lendo. Porque você está aqui, tem um corpo, um olhar. E isso é substituído atualmente por uma relação meramente virtual. Provavelmente, a deficiência na leitura do outro é mais grave que na leitura dos livros.
Você falou que sua palestra é um convite para a neurociência olhar alternativas. Ao mesmo tempo, faz uma crítica sobre como a neurociência encara ela mesma. Que crítica seria essa?
Não é uma crítica, mas uma declaração de inveja. Porque hoje a neurociência tem um poder de sedução enorme. Nós biólogos já tivemos, mas perdemos, foi-se o tempo. Eu acho que os neurocientistas não precisam escutar o que digo. Eles não precisam ser alertados sobre essa visão mecanicista, de olhar para o cérebro como um aparelho, um instrumento que pode ser comparado a um computador. Eles já sabem disso.
Eu conto uma história com um caçador da tribo de uma região remota de Moçambique. Para esse caçador e sua cultura, o cérebro está no corpo todo. Ele não é uma coisa, mas uma relação, um processo vivencial. E isso é uma verdade que tem que ser combinada com essa outra busca que os cientistas fazem, que passa por estudar a química, a física, a biologia. Quando falamos sobre identidade humana, isso só não basta.
Às vezes nós não temos consciência de quanto, por sermos do século 21 e possuirmos toda essa tecnologia, temos dentro de nós facetas diferentes que estão escondidas. É a visão cósmica, que une o lado religioso com o racional. Elas convivem e não há problema nisso. Uma das razões de eu gostar de vir ao Brasil é que essa troca está sempre à flor da pele. O brasileiro, mesmo o cientista mais sério e convicto, é capaz de me perguntar após cinco minutos de conversa qual é o meu signo no zodíaco para saber quem eu sou. E não existe conflito nisso. Não há o que corrigir. É bonito.
Provavelmente, a deficiência na leitura do outro é mais grave que na leitura dos livros.
Mia Couto
O congresso que estamos faz a ligação do cérebro com o comportamento e as emoções. Porém, a maioria dos estudos apresentados são sempre feitos na Europa e nos Estados Unidos. Quando pensamos em patologias e comportamentos de influência externa, não seria importante ter mais pesquisa realizada em outros lugares, como a África e a América Latina, que carregam culturas e contextos completamente diferentes?
Os estudos precisam ser referenciados na cultura, na maneira de ver o mundo, que são diversas nos variados locais. Só para voltar a Moçambique, não há palavras equivalentes a “natureza”, “mente”, “consciência” em alguns dialetos. Eles percebem o mundo de outra maneira. Existem formas diferentes de se enxergar essa separação aparentemente tão nítida entre aquilo que é o corpo e a alma. Isso leva a uma compreensão distinta sobre o que é o outro, as cores, o gosto, a visão, o olfato.
Por exemplo, para algumas línguas do meu país, “sonhar” e “voar” se diz com o mesmo verbo. Não há distinção nenhuma. Como essas pessoas entendem o mundo? Naquele encontro com o caçador da tribo, eu fui com meu filho, que também é biólogo. Em certa hora, nos despedimos e eu disse “adeus”.
O caçador olhou pra mim aterrorizado e disse que não poderia falar aquilo. “Ele não vai dormir com você na tenda, porque você está a se despedir dele?”. Pela primeira vez eu me perguntei sobre a ideia do que é ausência, do que é presença. Por que a gente se despede de quem dorme ao nosso lado? Isso vem da ideia de que a consciência é estar desperto, a marca da presença de alguém. Para ele não. “Você devia cumprimentar aqueles com quem sonha, não despedir-se dos que dormem”.
A gente pode dizer que a ciência sempre busca uma explicação racional da vida. Mas, para compreender o ser humano, é preciso saber de todo um lado que se pauta pela subjetividade, pelas sensações e outras referências?
Há várias racionalidades e maneiras de pensar sobre isso. Uma coisa é conhecimento e outra é a sabedoria. Essas sabedorias têm que ser escutadas de uma maneira que não é paternalista, antropológica, da procura pelo exótico. Mas, sim, no sentido de estar disponível. Eu sou ateu. Mas digo que sou um ateu não praticante, porque estou aberto a buscar outras experiências e sabedorias. Se criou a ideia dessa ciência mais racionalista, de que o desconhecido é algo que se equipara às trevas. E dá medo não conhecer. Essa ideia é perigosa!
Parece que vivemos na busca da linha do horizonte, que sempre se afasta de nós. Eu gosto de mistério. Eu gosto desse lado enigmático que não sei explicar. Foi criada a ideia de que é preciso um conhecimento que domina tudo. Se eu pudesse ter pedido alguma coisa aos meus professores é que não explicassem tanto. Não expliquem tudo!
Uma coisa que a África dá é esse sentimento de bem-estar e tranquilidade pela relação que ela estabelece com o que não se pode prever. Aqui, o nosso lado europeu nos coloca numa situação intranquila, insegura. A gente tem que saber o clima de amanhã, o que se passa em todos os lugares do mundo. Há cinco anos quem diria que o Brasil ia ser visto como é hoje? Cada vez mais percebemos que aquilo que compreendemos é muito pouco. E não dá pra comandar a vida tanto quanto a gente quer.
O órgão que a ciência menos conhece é o cérebro. É por isso que a gente tem tanta fascinação científica e literária por ele?
Se isso fosse um congresso sobre o pâncreas, estaríamos nós aqui? Eu não sou neurocientista, mas hoje se sabe que esse sistema cognitivo não está só no cérebro, mas no sistema endócrino, imunológico… Nós é que compartimentamos e vemos as coisas dessa maneira. Há um fascínio restrito a essa nossa cultura, que encontra o cérebro como a obra-prima de Deus.
Se eu pudesse ter pedido alguma coisa aos meus professores é que não explicassem tanto
Mia Couto


 Folha de taioba: benefícios de uma planta comestível e rica em nutrientes
Folha de taioba: benefícios de uma planta comestível e rica em nutrientes O elo entre autocuidado e saúde pública
O elo entre autocuidado e saúde pública Estudo inédito traz nova conduta para o tratamento do Câncer de Próstata
Estudo inédito traz nova conduta para o tratamento do Câncer de Próstata Por que as mulheres estão parando de se exercitar?
Por que as mulheres estão parando de se exercitar? ACESSA anuncia 3ª edição do Prêmio Autocuidado em Saúde
ACESSA anuncia 3ª edição do Prêmio Autocuidado em Saúde