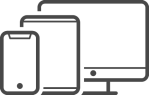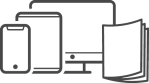Eu nem sei quantos anos tinha quando descobri o significado da palavra hipoglicemia, mas eram poucos. Desde muito cedo, minha mãe treinou eu e meus irmãos para identificarmos as quedas de açúcar no sangue – ou as “hipos” – do meu pai, que tem diabetes tipo 1.
Comportamento confuso, olhar perdido ou até crises de convulsão sinalizavam que ele havia injetado insulina em excesso e corria risco de vida imediato.
No diabetes tipo 1, o organismo ataca o pâncreas, que deixa de produzir insulina. Meu pai então precisava das injeções desse hormônio para controlar a taxa de açúcar no sangue.
Mas o corpo precisa de insulina na dose certa, na hora certa. E nem os mais disciplinados como meu pai não cometiam deslizes.
Agulhas, injeções, gotas de sangue e medições eram parte da rotina. Mas ainda que eu pudesse exercer a empatia com quem estava todos os dias diante de mim fazendo o ritual de erguer a camisa, injetar a insulina antes de todas as refeições e, vez ou outra, manchar as roupas de sangue, não estava preparada para o próximo capítulo.
+ Leia também: Diabetes tipo 1: a vida de milhares de brasileiros está em risco
Aos 23 anos, também fui diagnosticado com diabetes tipo 1 – mesma idade do diagnóstico do meu pai. Recebi a notícia de que meu pâncreas deixou de funcionar e teria de usar insulina diariamente para sempre.
Meu índice de massa corporal (IMC) estava em dia. Eu era jovem. Não consumia refrigerante desde a infância.
E nem dava para colocar culpa na hereditariedade: alguns endocrinologistas juram que a doença do meu pai e a minha são coincidência. Segundo eles, a influência da genética no diabetes tipo 1 é menor inclusive que a do tipo 2, provocada em grande medida por obesidade e hábitos de vida.
Filha de um homem com diabetes tipo 1, achei que sabia muito sobre essa doença crônica. Mas eu não conseguia aceitá-la como parte da minha constituição, muito menos conviver com ela sem prazo de validade.
Se tem uma coisa desafiadora do diabetes, é entender que todo aquele ritual exigente de vida é contínuo e perpétuo.
Você até pode se enganar por algum tempo. Ninguém vai perceber e o brigadeiro de hoje sem a insulina adequada não terá impacto suficiente para “passar mal”. Mas, ao longo do tempo, a conta vem com multa e juros. É uma doença silenciosa e perversa.
Em dez anos de diabetes, oscilei no meu tratamento. Tive fases de intensa dedicação e rigor quase radical, enquanto em outros momentos relaxei e me negligenciei. Mas sem dúvidas a gestação foi o período mais desafiador – e o de maior entrega.
Pois é: assim como meu pai, eu queria gerar filhos. A diferença é que sou mulher.
Biologicamente, minha contribuição para gerar uma vida não se restringe ao óvulo. Ela passa pela condição do meu útero, pela qualidade do sangue transferido via cordão umbilical, pela disposição em nove meses de gestação, para a amamentação…
Emoções, estresse, hormônios, temperatura, exercícios e até alimentação interferem no controle glicêmico. Dá para imaginar a dificuldade de se tomar as rédeas da montanha russa que é a gestação de uma mulher com diabetes tipo 1.
Quando o tema é a intersecção entre diabetes e maternidade, encontramos mais conteúdos sobre as mães de pacientes com diabetes do que sobre as pacientes que ousam gestar.
Eu buscava essas referências. Sabia que ter diabetes não é impedimento para conceber, gestar, parir naturalmente e amamentar. Mas, entre a possibilidade e as referências reais, havia um abismo. E é nos abismos que os mitos moram.
Com o exame de hemoglobina glicada em 7% (boa, mas não ideal), engravidei no segundo semestre de 2020. Isso em um mundo que pulsava a pandemia e repetia milhares de vezes ao dia que eu compunha o grupo de risco. Ainda não tínhamos acesso a vacina.
Neste caminho, nossa principal missão (uso o plural porque o apoio e participação ativa de meu marido foi ímpar) foi identificar profissionais competentes no tema.
Encontrar uma nutricionista que dominasse o assunto e uma obstetra humanista e dedicada foi dificílimo, porém mudou o rumo do controle glicêmico no segundo e no terceiro trimestres. Mas nos exigiu muita disciplina.
Caminhadas diárias, alimentação restrita, fisioterapia pélvica duas vezes por semana… Mesmo assim, a dose de insulina mais que triplicou no período. Definitivamente não é para os fracos.
O percentil de peso da bebê estava sempre acima de 90%, o que significava que ela era grande demais e que crescia muito devido à glicose no meu sangue. Mesmo com todos os cuidados. Chegamos à 36ª semana bem, mas a bebê já tinha 3,5 quilos!
Minha equipe foi honesta: eu deveria entender que, sim, a Heloísa poderia entrar em trabalho de parto natural na semana seguinte, próxima da 37ª semana gestacional. Mas isso seria uma exceção.
E, se isso não acontecesse, eu deveria ser internada para tentar induzir o parto com a injeção de ocitocina. E, se meu corpo não correspondesse a esse estímulo, iríamos para a cesárea.
Mas minha fé entrou em ação antes da ocitocina.
Escrevi uma carta pra minha neném contando o que estava sentindo e detalhando o sonho que gostaria de viver: que ela chegasse ao mundo naturalmente e saudável. Na noite limite para ser encaminhada ao hospital, quando a gestação completou 37 semanas e a bebê estava a termo, minha bolsa estourou. As contrações vieram forte.
No hospital e de parto normal, Heloísa veio ao mundo às 7h14 do dia 20 de abril de 2021. Mesma data de aniversário de 51 anos da minha mãe, a avó dela. Nasceu com 4,05 quilos e saudável.
Amamentar não é fácil. Nas primeiras madrugadas, revezei entre as mamadas e um docinho para fugir de hipoglicemias severas. Difícil, mas não impossível.
A Helô hoje está com 2 anos e 3 meses, 4,3% de glicada e ainda mama no peito. Já sabe que as canetas que ficam na geladeira são remédio da mamãe. Seu vovô tem 68 anos, dos quais 45 foram compartilhados com uma doença crônica e trabalhosa, mas que não nos impede de nada.
*Ester Athanásio, jornalista, tem diabetes tipo 1 e, desde 2014, é mãe da Heloísa. É mestre em comunicação e doutoranda em políticas públicas

 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO




 Chá de amora: conheça os benefícios e como preparar
Chá de amora: conheça os benefícios e como preparar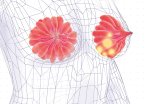 Câncer de mama: plataforma inteligente detecta e perfila a doença
Câncer de mama: plataforma inteligente detecta e perfila a doença Sachê para gatos: entenda por que é tão importante oferecer
Sachê para gatos: entenda por que é tão importante oferecer Heroína: consequências do vício e reabilitação
Heroína: consequências do vício e reabilitação Concentrado, isolado, hidrolisado: qual é o melhor whey protein?
Concentrado, isolado, hidrolisado: qual é o melhor whey protein?